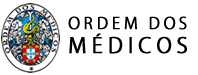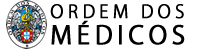Autor: José M D Poças, Médico Internista e Infeciologista; autor do Livro “Ode ou Requiem”; co-autor e editor do Livro “A Relação Médico-Doente” da OM, Provedor da Pessoa Doente da LAHSB; Autor do site josepocas.com que tem como lema “Medicina: Cultura, Ciência e Humanização”; Coordenador da Comissão de Crise do CoVID-19 no CHS
“Se o nosso espírito pudesse compreender a eternidade ou o infinito, saberíamos tudo” (Fernando Pessoa, poeta português, 1888-1935)
“Não temos nas nossas mãos as soluções para todos os problemas do Mundo, mas diante de todos os problemas do Mundo, temos as nossas mãos”. (Fredrich von Schiler, médico e filósofo alemão, 1759-1805)
I)- Preâmbulo
“A vida é um viajante que deixa a sua capa arrastar atrás de si, para que lhe apague o sinal dos passos” (Louis Aragon, poeta francês, 1897-1982)
“A credulidade é uma forma de evitar o desespero, a desilusão e o medo da morte” (Humberto Eco, escritor e filósofo italiano, 1932- 2016)
Vivemos numa época em que as virtualidades da ciência são idolatradas quase como se de uma nova religião se tratasse. Crê-se que a ciência se baseia exclusivamente na tecnologia. Intui-se que a tecnologia tem por base apenas a matemática. Teoriza-se sobre a hipótese de todos os enigmas e problemas da Humanidade se poderem expressar através de números e de equações. Assume-se que a qualificação de algo se pode resumir à sua mera quantificação. É cada vez mais difícil distinguir o virtual da própria realidade em si mesma. As pessoas vivem cada vez mais sozinhas, embora rodeadas por uma panóplia de outros seres humanos que partilham da mesma solidão. A hiperinformação que caracteriza a sociedade contemporânea, dificulta, amiúde, que alguém possa ter uma opinião convicta e decida autonomamente em consciência. A introspeção e o diálogo profícuos são cada vez mais raros. Numa sociedade em que todos correm, muitas vezes por inércia, mimetizando acriticamente o que vêm fazer aos outros, ou a mando de um qualquer sinistro Big Brother, porque já não são capazes de parar, de apreciar o silêncio, a quietude, de se encantarem com as coisas mais simples ou de se condoerem com a fragilidade do Homem, o tempo transformou-se, para a minoria sobrante, num secreto luxo de que não é possível prescindir, para poder manter o indispensável equilíbrio afetivo e anímico e, assim, melhor enfrentar o quotidiano. A vida que presentemente se vive, tem muito de tudo isto. O que não deixa de ter óbvias e substantivas implicação na prática atual da Medicina Clínica.
Durante a presente pandemia, muitas pessoas supostamente idóneas e conhecedoras foram sendo chamadas pelos diversos órgãos de comunicação social a virem dar explicações acerca deste fenómeno com uma cadência verdadeiramente avassaladora. Repetiram-se infindos programas, entrevistas, colunas de opinião e reportagens, na tentativa de permitir o melhor esclarecimento possível a uma ávida audiência composta por interessados cidadãos, hipotéticos futuros doentes ou eventuais transmissores mais ou menos inconscientes de tão terrível mal que afligiu o Mundo de rompante e ajudou a desnudar a nossa extrema fragilidade. Até a hierarquia Ministerial não prescinde de dar uma conferência de imprensa diária, onde se revelam os últimos números e se respondem a perguntas dos órgãos de comunicação social, em vez de ter optado por outro modelo bem mais didático que impedisse a nefasta vulgarização do fenómeno. Esta foi a primeira pandemia da História da Humanidade em direto e online, tal como a 1ª Guerra do Golfo, ocorrida no início da década de 90 do século passado, em plena era do Presidente norte-americano Bush pai, foi o primeiro conflito bélico com idênticas características, embora, então, apenas nas televisões, na rádio, nos jornais e nas revistas, pois ainda não havia, nem internet, nem redes sociais por via eletrónica. O que faz toda a diferença. Como facilmente se constata.
Dar notícias em direto e pretender, em simultâneo, fazer uma análise fria e objetiva da natureza dos fenómenos que estão a ocorrer, é algo de muito apelativo, mas a verdade é que só com a necessária passagem do tempo isso poderá vir a acontecer na essência. A História não se faz e interpreta no mesmo momento. Passa-se no passado e analisa-se no futuro. Por muito que tal fosse hipoteticamente possível, prescindir da faculdade de sermos surpreendidos por todos os acontecimentos ainda por vivenciar, seria como não colocar a quantidade certa de vinagre no tempero da lampreia à bordalesa, adulterar o odor de quem amamos de paixão, contemplar as flores de um quadro de Van Gogh situado num salão que subitamente ficou sem ponta de luminosidade, ouvir as Quatro Estações de Vivaldi tocadas por um violinista sem alma e com o seu instrumento desafinado, bem como impedir a perceção única e inesquecível da carícia que uma mãe se preparava para fazer ao seu filho recém-nascido, quando acabaram de lho trazer para a primeira mamada depois do seu nascimento. Equivaleria, pois, a tornar a vida num eterno e insuportável tédio e num Everest de incomensuráveis frustrações. Sem ponta de felicidade palpável. Apenas com a certeza de um futuro sem qualquer novidade, boa ou má. Sem podermos alterar fosse o que fosse da nossa vida, porque tudo iria acontecer conforme o previsto por algum ente supremo, embora invisível. Em parte, por isto mesmo, não acredito no destino, tal como não sou crente em nenhuma divindade. O que não equivale a dizer o mesmo dos (bons) princípios que as religiões ensinam (que procuro seguir), ou do muito respeito que é devido aos seus crentes e aos respetivos locais de culto. E que também não implica que seja desprovido de fé ou seja indiferente à esperança.
Quererá a proposição previamente expressa dizer que não faz sentido planear ou tentar prever e acautelar o futuro, seja ele o de um mero cidadão anónimo, de uma família mais ou menos numerosa, de um qualquer grupo constituído ou, mesmo, o de uma Nação inteira? Claro que não. De todo. Suponho, convictamente, que tal dirão a maioria das pessoas. Então, como compatibilizar as duas premissas formuladas, “aparentemente” antagónicas?
Só fazendo tudo o que é humanamente possível e aceitável para cumprir a segunda, mas impondo-nos limites para que nunca possamos prescindir da primeira. Ou seja, no campo da saúde, melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos de uma forma o mais generalizada possível, seja pela prevenção eficaz das variadas doenças, seja pelo tratamento mais adequado daquelas que os forem acometendo, mas estabelecendo voluntários limites ao desenvolvimento científico-tecnológico, de modo a que estes não nos propiciem o inebriante acesso de passarem à condição de imortais, ou de se transformarem em simples seres biónicos. Porque isso tornaria o Homem num verdadeiro predador do seu semelhante, logo de si próprio e de toda a Humanidade. Porque isso equivaleria a ficarmos iguais às divindades, e por tal, a deixarmos de ser Seres Humanos de pleno direito. Porque isso significaria pretender materializar o espírito, contrariando em absoluto a sua essência. Porque isso representaria algo que contrariaria toda a intemporal lógica do Universo, no seio do qual tudo se recicla e se transforma permanentemente, porque uma vida deve originar outra vida e nunca ser o obstáculo a que isso continue assim acontecendo ad eternum. Porque os recursos da Natureza são finitos e nenhum de nós pode perder essa vital noção de mera sobrevivência e de ética convivência, devendo desse modo contribuir para que os vindouros tenham também condições para realizarem, com regras civilizacionais imbuídas de idênticos valores, os seus próprios projetos com a mesma liberdade e idêntica responsabilidade. Porque temos que aceitar tranquilamente que a molécula de ferro da hemoglobina que está no sangue de qualquer um de nós, ninguém sabe de onde veio nem para onde irá depois de morrermos, mas que deverá continuar eternamente a circular da mesma forma por esse cosmos fora, tal como o fez anteriormente e o deverá fazer daí em diante. Porque isso é condição absoluta de manutenção da existência da nossa casa comum que se chama planeta Terra, que não temos o direito de hipotecar por ambições desmedidas e vazias de verdadeiro sentido civilizacional ou de alma.
É como gastar algum tempo a deleitarmo-nos com a planificação de uma viagem que queremos muito realizar, mas ter a capacidade de poder optar, por vontade explícita ou por mera intuição, numa certa altura, por seguir por uma qualquer estrada e não pelas outras que existiam na bifurcação onde tivemos que fazer essa escolha, gozando do prazer do percurso, ultrapassando os impedimentos que se colocarem pela frente com tranquilidade e determinação, mas respeitando sempre os que transitarem, quer no mesmo sentido, quer em sentido contrário, tal como os que viajarem por outros quaisquer motivos, mas, aceitando, sem angústias existenciais, que jamais saberemos o que teria acontecido se tivéssemos decidido, naquele preciso instante, ter rumado por outra via. Produzisse essa decisão as sensações que fossem ocorrer. Melhores ou piores. Certamente diferentes. Mas que, e ainda bem, nunca conseguiremos saber de todo. E, no fim, poder relembrar os acontecimentos, partilhá-los onde e com quem o quisermos fazer (familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou de viagem), ou apenas com a nossa própria memória, quando e como nos aprouver, concluindo sempre: Valeu a pena. Aprendi algo e tive um reconfortante prazer. Venha a próxima. É esta a minha noção metafórica de uma das melhores facetas que a Vida nos pode propiciar.
Outra pergunta que se impõe. É a de que, afinal de contas, o que é que tudo isto tem a ver com a presente pandemia? Os paralelismos são, a meu ver, mais do que óbvios, embora reconheça que, eventualmente, subtis e algo implícitos. Passo a explicar.
II)- A vivência na perspetiva do doente
“A incerteza dos acontecimentos é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento” (Jean Massillion, bispo francês, 1663-1742)
“Os homens preferem geralmente o engano, que os tranquiliza, à incerteza, que os incomoda” (Marquês de Maricá, escritor, filósofo e político brasileiro, 1773-1848)
A primeira incerteza que dilacera o pensamento da grande generalidade das pessoas é a de saber se irão ou não ficar infetadas e, nessa eventual circunstância, se irão ou não morrer e, na primeira hipótese, se poderão recuperar? Caso sobrevivam, se irão ou não ter sequelas, transitórias ou permanentes, ligeiras ou graves, ou se conseguirão ficar imunizadas? Se irá, ou não, haver transmissão do vírus a alguém e quais as consequências para essa pessoa? Quanto tempo antes de ficarem sintomáticas, essa culpabilizante transmissão poderá ocorrer? Se o estilo de vida que tinham antes, podem voltar a mantê-lo depois de terminar a pandemia, pois davam-no antes como muito provavelmente adquirido, não fosse esta incómoda, imprevista e maldita nova peste dos tempos modernos. A que se segue um rol quase infindo de outras dúvidas, como por exemplo: De onde veio este micróbio? Quando irá haver um teste rápido, fácil de executar, fiável e generalizadamente acessível para identificar o maior número e o mais precocemente possível, a suposta infinidade dos infetados? Quando irá existir um tratamento realmente eficaz? E uma vacina segura? Irão ocorrer outras vagas da mesma infeção? E quando? Se vierem a verificar-se, serão piores, ou não? Irá haver necessidade de recorrer a novos confinamentos sociais ou geográficos? E por quanto tempo? E quantas vezes? A doença poderá sofrer recorrências ou poder-se-á ser reinfectado por outra estirpe? E se for infetado, mas estiver assintomático, qual o perigo para mim ou para os conviventes? E se os testes permanecerem positivos por infindas semanas a fio, ou alternarem entre um resultado e outro, que significado isso traduz? Quais as implicações socioeconómicas a curto, médio e longo prazo? Irá ou não existir outra pandemia? E de que natureza? Com que consequências? Produzirá ela os mesmos efeitos desta? E, finalmente, porque é que tudo isto se está a passar agora? Será fruto de um terrível azar, ou algo mais do que uma fortuita coincidência? E não se poderá arranjar maneira de prever, ou, nessa impossibilidade, pelo menos, de prevenir tais terríficos eventos?
Perguntas óbvias e pertinentes, sem dúvida. A consulta dos sempre interessantes e ilustrativos manuais de História da Medicina responderá, com aproximação e por analogia, a algumas daquelas questões, embora com a consciência que cada uma das inúmeras pandemias que já fustigaram a Humanidade ao longo dos últimos dois ou três milhares de anos, das quais existem alguns registos documentais, e, a que presentemente nos preocupa, não foge à regra, pois, na sua essência e nas suas consequências, é verdadeiramente única, com maiores ou menores diferenças relativamente às demais, com a mesma propriedade que se afirma que uma mesma doença em doentes diferentes é uma doença distinta. Porque será? Porque depende de um conjunto irrepetível de fatores que a diferenciam de cada uma delas, desde o tipo de agente microbiano em causa e a sua virulência intrínseca, o contexto epidemiológico, o local de origem do surto, a capacidade de se chegar a um diagnóstico preciso num espaço de tempo que varia entre previsíveis extremos, a maior ou menor suscetibilidade genética e sanitária das próprias populações atingidas, a precocidade da implementação das medidas de contenção social e geográfica, a existência ou não tratamento eficaz ou de meios de profilaxia medicamentosa ou de vacinas disponíveis e apropriados, etc.
O que tornará as sociedades modernas mais vulneráveis do que as predecessoras? Pense-se em fenómenos como a sobrepopulação, a invasão descontrolada de nichos ecológicos até agora intocados pelo Homem, a agropecuária intensiva, a poluição e a as consequentes alterações nos diversos ecossistemas planetários, a rapidez com que as pessoas, os animais e os bens se deslocam por via aérea, terrestre, marítima ou fluvial de um lado para o outro e a magnitude do seu volume e intensidade, os eventos geológicos e meteorológicos extremos, as guerras fratricidas, a esmagadora quantidade de migrantes e de refugiados que se deslocam anualmente dos países mais fustigados por causa desta tenebrosa problemática, para aqueles que os mesmos supõem ser o eldorado do desenvolvimento humano e civilizacional, a miséria social e a desnutrição dos indivíduos e das populações, a realização mundializada de frequentes eventos de massa, ou, o encobrimento inicial da eclosão de um surto com potencial pandémico e o atraso na implementação das medidas sanitárias eficazes que lhe são devidas, por inaceitáveis questões de índole diplomática ou geoestratégica, para não falar da secreta e obscura investigação do foro microbiológico em laboratórios militares, que permite atualmente a vários países disporem de capacidade para poderem, voluntária ou involuntariamente, vir a desencadear uma autêntica guerra biológica de consequências imprevisíveis, mas certamente com um potencial muitíssimo mortífero.
E quais serão as vantagens que hoje dispomos? Sem dúvida, a capacidade tecnocientífica, que permite estudar um determinado evento com incomparável maior celeridade, identificar a sua causa concreta, almejar produzir mais rapidamente um meio diagnóstico, um medicamento ou vacina eficaz e segura, estudar com maior precisão a dinâmica epidemiológica e fazer previsões mais assertivas acerca da sua possível evolução, consoante a complexa e imensa rede de variáveis em causa numa determinada época, região ou país, bem como a facilidade e a rapidez com que a informação circula entre os cidadãos, os políticos e os cientistas, embora, infelizmente, nalguns casos, com muita desinformação e censura à mistura.
O drama surge, geralmente, quando perante este conjunto complexo de incertezas, os cidadãos e as sociedades acabam não entendendo bem que a resposta que ambicionam freneticamente, leva tempo a ser dada, e que quem é suposto esclarecê-los não é suficientemente explícito para que os primeiros possam não confundir teorias com aquilo que podemos designar como ciência provada de facto. E tudo isso é muito ampliado, porque certos jornalistas que, na ânsia de quererem ter algo de supostamente importante e inédito para ser apresentado em primeira mão e antes dos restantes “rivais”, ao não dominarem, frequentemente, a linguagem científica que lhes permitiria digerirem, com adequação, esse complexo acervo de informação, acabam optando, maioritariamente, pelo caminho mais fácil e que mais eficazmente chame a atenção dos seus potenciais leitores, porque os índices de audiência são, para muitos gestores dos órgãos de informação, considerados mais importantes do que a exatidão daquilo que se está a querer transmitir e se reveste possivelmente de relevante importância para os cidadãos e para a sociedade.
Uma outra constatação muito interpelante é o conhecido potencial deste tipo de fenómenos desencadearem reações de estigmatização que recaem sobre os infetados, as suas famílias ou conviventes, sobre as instituições e, mesmo, sobre quem os trata, o que, por vezes, conduz a tentar ocultar a dilacerante dúvida que carregam acerca da sua possível condição de infetados. Tal como a fragilidade social inerente à precaridade laboral também faz com que exista, por vezes, uma deliberada ocultação de suspeita sintomatologia, por receio de poder perder a fonte de rendimento do próprio ou do seu agregado familiar. Ambos os fenómenos, por vezes coincidentes, podem ter um impacto que, embora difícil de quantificar, será certamente muito importante, sobretudo porque permanecem ocultos numa clandestinidade mais ou menos difundida, consoante as regiões ou países considerados.
III)- A vivência na perspetiva do médico
“O problema com o mundo é o de que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas enquanto as ignorantes estão plenas de confiança” (Charles Bukowski, poeta germano-americano, 1920-1994)
“O que sabemos, saber que o sabemos. Aquilo que não sabemos, saber que não o sabemos: eis o verdadeiro saber” (Confúcio, filósofo chinês, 551ac-497ac)
Mas não são só os cidadãos que se confrontam com dúvidas dilacerantes. Os médicos foram chamados frequentemente a intervir em cenários de grande incerteza, onde a similitude dos quadros clínicos dificulta o diagnóstico diferencial assertivo, o historial epidemiológico nem sempre é suficientemente indicativo, a sensibilidade e a especificidade dos testes analíticos está longe de ser a ideal e os aspetos imagiológicos, não raramente, enganadores. Nos hospitais, o número de camas de enfermaria com as condições requeridas para evitar eventuais contágios a outros doentes ou a profissionais, são muito escassas ou, mesmo, inexistentes, havendo frequentemente que optar por misturar, num mesmo andar do setor do internamento, doentes que são pura e simplesmente apelidados de meros suspeitos, ou seja, que tanto podem ser positivos, como negativos, sabendo-se que, alguns destes últimos, com certa frequência, têm sucessivos testes com resultado negativo, mas que se vem a comprovar posteriormente que, afinal, padeciam efetivamente da doença, a que se deve acrescentar o facto da espera pelos respetivos resultados durar, por vezes, uma infinidade de tempo para as circunstâncias (que pode ir até 2 ou 3 dias), para uma doença que, nalguns casos, pode comportar grande gravidade clínica e ser, mesmo, fatal e deixar sequelas graves nos sobreviventes. Como dirimir o eterno dilema de saber a atitude correta perante um doente que piora o seu estado clínico, e o facto de, não havendo ainda terapêutica específica eficaz comprovada e unanimemente aceite, mas, em simultâneo, indícios razoavelmente promissores de estudos “in vitro” de que alguns medicamentos, investigados e aprovados para o tratamento de outras doenças, poderão melhorar o prognóstico desses doentes, quando, do ponto de vista ético, tal equivale a termos de nos confrontar com a incontornável dicotomia, entre o que sabiamente disse Hipócrates (“Primeiro, não fazer mal”), ou com o que eloquentemente clamou o presidente norte-americano Theodore Roosevelt, perante a catástrofe vivida durante a época da Primeira Guerra Mundial e o advento da pandemia da “Gripe Espanhola” (que foi muito mais mortífera do que o conflito militar): “em qualquer momento de decisão, o melhor que se pode fazer é a coisa certa, a seguir, é fazer a coisa errada, mas, a pior, é não fazer nada”). Para não falar do surdo e justificado temor de se poder ficar contagiado, de ter de optar entre o risco de poder transmitir a infeção à família direta, ou de abdicar do seu convívio por um longo período de tempo, sendo certo que se irá ter de trabalhar sob um enorme stress físico e emocional, por vezes quase até à exaustão, por longas semanas consecutivas. Nada fácil. Nada invejável. Mas, com a enorme e reconfortante sensação de poder clamar no fim: Esta é a nossa missão, e poder salvar alguém que estaria condenado a uma morte precoce, dando um contributo decisivo para lhe restituir a saúde que antes tinha, não tem preço. O leve sorriso do doente aquando da alta clínica hospitalar ou quando recupera a consciência e a lucidez e se vê rodeado pelo “seu” médico e pelo “seu” enfermeiro, por vezes com a lágrima a bailar no canto do olho, é o que basta. Mesmo sem qualquer interjeição a acompanhar, a não ser, às vezes, um impercetível soluço…!!!
Outra das situações vividas com muita dúvida e, por vezes com surdo pânico interior, foi a fuga dos doentes com as outras afeções dos hospitais onde esta doença se tratava, por receio de ficarem infetados, tal como a atribuição exageradíssima, nessas mesmas instituições, do epíteto de suspeito de alguém estar infetado por parte de médicos mais desconhecedores dos quadros clínicos ou que projetavam no seu raciocínio clínico os seus inconfessados receios de ficarem contaminados. Atitude humana, de parte a parte, embora com graves consequência potenciais para os doentes e para as instituições.
Mas as coisas não se ficam por aqui. Ter a responsabilidade de coordenar uma equipa hospitalar responsável pelo combate a este flagelo, onde a única coisa que não faltou foi uma genuína vontade de levar a missão a bom porto, liderada e composta por quem nunca recebeu tal treino ou formação académica, sem qualquer diretiva concreta e atempada da hierarquia ministerial, muitas vezes tendo de ultrapassar o ceticismo da hierarquia institucional, confiante, mas naturalmente desprovida dos imprescindíveis conhecimentos clínicos ou de epidemiologia, que a cada passo alertava compreensivelmente para o facto de se estar, eventualmente, a correr o risco de se exagerar nas medidas, com uma estratégia onde as principais armas foram o bom senso, a inteligência emocional e a capacidade intuitiva de tomar decisões com acelerada cadência para antecipar cenários admissivelmente mais gravosos, vendo, muitas vezes, chegar-se quase à iminência de se esgotarem certos recursos fundamentais, gastando quase todo o tempo e energia possíveis, em sucessivas e intermináveis reuniões, a passar visita às enfermarias, a estar 24h por dia disponível para ser contactado e tirar dúvidas a doentes e a colegas, e acumular tudo isto com as funções exigentíssimas da Comissão de Controlo de Infeção da instituição, é algo que será impossível de alguma vez ser esquecido e que só se faz por verdadeiro espírito de missão e com muita serenidade interior. Vários atributos se revelaram ser fundamentais para lidar equilibradamente com toda esta hecatombe de acontecimentos: Saber estar solidamente convicto na hora de decidir, ter encaixe para ouvir atentamente os outros, por vezes com opiniões diametralmente opostas (como costumo dizer, o diálogo é um excelente meio, mas um péssimo fim em si mesmo), e ter a capacidade para infletir a estratégia traçada anteriormente com genuína noção de isso ter passado a ser a melhor opção, porque as circunstancias se alteraram ou a perceção daquilo que ameaçava vir a ocorrer deixou de ser a mesma.
Valeu-me de muito, a minha curta, mas riquíssima experiência em África, onde tive que me confrontar com a exiguidade quase absoluta de meios perante verdadeiros dramas humanos, e onde aprendi a relativizar um pouco o valor das coisas que nos rodeiam habitualmente nas denominadas sociedades da abundância como a que nos habituamos a viver, porque aí se aprende a percecionar e a apreciar, sem sombra de dúvida, o valor que os naturais dão aos pequenos detalhes que nós nem sequer notamos no turbilhão do nosso dia-a-dia estonteante e que tomamos como perfeitamente “normal”, mas que são, sem dúvida, os mais importantes na nossa vida relacional: a capacidade de dádiva aos outros, a entrega às causas, a dimensão dos valores civilizacionais como os da ética, da solidariedade ou da genuína gratidão expressa no simbolismo implícito dos gestos espontâneos da gente mais pura e simples com quem tive a oportunidade de privar até hoje.
IV)- Algumas possíveis e polémicas explicações
“Uma certa dose de risco é sempre indispensável à cura” (Edith Eger, Psicóloga eslovaco-americana, 1927-2019)
“O futuro permanece escondido até dos homens que o fazem” (Anatole France, jornalista francês, 1844-1924)
Sabe-se que a Medicina não é só Ciência Médica. Importa ter a consciência que outros saberes complementares nos ajudam a explicar melhor certos fenómenos ligados à saúde ou à doença, sobretudo em certas circunstâncias. Por exemplo, porque é que Setúbal teve muitos menos casos confirmados (mas não de suspeitos!!!), na proporção da sua população, do que outros concelhos limítrofes que ficam a norte da península, junto às margens do rio Tejo? Penso (convictamente), como a história, a sociologia e a geografia humana nos ensinam, porque a cidade capital deste Distrito, pelo facto de ter uma identidade própria, não ser nem nunca ter sido uma cidade dormitório de Lisboa (onde naturalmente existe o maior número de casos), por existirem muito menos pessoas a deslocarem-se diariamente para a capital do País do que nas outras cidades sede desses concelhos, e daquelas que o fazem, uma razoável percentagem viaja em viatura própria, logo, com muito menor risco de contágio.
Também a biologia nos poderá ajudar a responder com alguma razoabilidade à “eterna” pergunta de se poder antever a hipótese de ir existir ou não outra ou, mesmo, várias futuras vagas da doença. Admito como possível, o seguinte, partindo do princípio que não se pode estabelecer qualquer correlação absoluta com o que acontece com a gripe. Esta, tem uma distribuição sazonal (ocorre sobretudo nos meses mais frios, com exceção das regiões intertropicais periequatoriais e tem com reservatórios animais, as aves e o porco, que estão bastante dispersos por todos os países do mundo). Os coronavírius responsáveis pelas duas outras doenças conhecidas e mais parecidas com o SARS CoV-2 (o SARS CoV-1 e o MERS), existem sob condições metereológicas com um espectro muito mais amplo e nunca provocaram posteriores vagas, permanecendo o vírus causador da segunda, endémico desde há cerca de uma década e relativamente estável do ponto de vista epidemiológico, apenas tendo produzido alguns surtos autolimitados e de média dimensão. Os reservatórios animais conhecidos, estão muito mais localizados do que os do vírus influenza, ou seja, os morcegos, a civeta, os camelos ou o pangolim, e não parecem ter grande capacidade de se adaptarem bem a outros mais comuns e difundidos (com raros casos descritos de infeção em mamíferos domésticos, como o cão e o gato). Se mantiverem este comportamento, a hipótese de virem a produzir futuramente esse temido fenómeno, ficaria restrita a dois cenários: ou o Homem passa a ser, ele próprio, um reservatório (qual a célula ou tecido?); ou o vírus se torna endémico nalgum país do mundo (ou em várias zonas em simultâneo), havendo permanentemente circulação na comunidade (a partir de portadores assintomáticos?), e, por algum hipotético fator ainda por descortinar, despoletar-se um novo recrudescimento mais ou menos súbito, sobretudo se associado a um aumento da sua virulência. Neste possível cenário, pergunto: Não teremos, todos (cidadãos, políticos, cientistas e profissionais de saúde), aprendido o suficiente, para fazermos o que se impõe e supostamente não o fizemos agora, no sentido de impedir mais eficazmente, dessa vez, tal evento com tantas catastróficas consequências?
Sabe-se que o número real de infetados é cerca de 10 vezes superior ao dos que têm o diagnóstico laboratorialmente comprovado nas estatísticas oficiais conhecidas (a maioria das estimativas apontam para cifras ente 5 e 15), o que torna a taxa de mortalidade efetiva muito menor do que a expressa para a presente pandemia (cerca de 2 a 3%), tal como, de resto, para muitas outras doenças infeciosas já conhecidas. Se as políticas de saúde pública empreendidas em quase todos os países resultaram de um balanço estimado entre as perspetivas do impacto sanitário e o prejuízo económico inerente, como fazer então o necessário equilíbrio entre esses dois polos opostos? Como justificar o despoletar de uma profunda crise económica, com consequências também na saúde, perante um cenário que se constata, afinal, não ter sido “tão mau” assim? Diria que é muito fácil ajuizar a posteriori, mas profundamente demagógico negar que se devesse ter levado em consideração que a taxa de mortalidade das outras doenças por coronavírus já referidas eram muito superiores (entre 10 e 30%), e que se algo de idêntico se viesse a passar agora, perante a ausência de uma suposta imunidade de grupo (ainda que parcial), a elevada contagiosidade deste vírus (Ro > 2) e a sua constatada rapidez de disseminação, poderíamos estar a correr o risco de deixar de controlar algo que poderia vir a assumir as proporções catastróficas de outras pandemias registadas ao longo da história da Humanidade, a última das quais há cerca de 100 anos (a denominada “gripe espanhola”) que se estima ter produzido cerca entre 50 a 100.000 milhões de mortos em todo o Mundo. Tanto mais que, como não existem, ainda, nem tratamento específico, nem vacinas eficazes comercializadas, as regras de confinamento social permanecem, desde a Idade Média, como as mais eficazes. Por outro lado, se isso não fosse feito, mesmo considerando os nefastos impactos económicos expetáveis, o pico da curva epidémica levaria a uma subida muito mais acelerada do número de casos num mais curto espaço de tempo, precipitando logicamente o colapso generalizado dos cuidados de saúde de uma forma tão óbvia que, ninguém, em sã consciência, se quereria vir a responsabilizar-se depois. Multiplicar-se-iam os angustiantes e sempre eticamente polémicos episódios em que haveria imperiosamente que optar, entre vários doentes em simultâneo, qual aquele a que se iria dar acesso a uma vaga de cuidados intensivos, o impacto na saúde dos profissionais de saúde seria ainda muito maior e, mesmo, avassalador, o que iria necessariamente refletir-se na capacidade de resposta às populações e, logo, no tecido económico com uma magnitude incomparavelmente superior à verificada. O que equivaleria a assumir explicitamente o direito à indiferença perante a barbárie, o que iria completamente contra a ética e a deontologia médicas. Chegará, para convencer os intrépidos defensores do contrário, pergunto? Ou defenderão o que Trump e Bolsonaro fizeram nos dois maiores países do continente americano?
Noutra dimensão desta problemática, poderemos afirmar que a posição eticamente correta do médico, deve, pois, caracterizar-se por ser rigoroso nas suas análises conceptuais e nas decisões que tomar, por saber ser discreto, por ter a humildade de confessar a sua ignorância, por ter a capacidade de informar com clareza o que efetivamente se sabe, distinguindo-o do que é fruto de uma mera teoria, válida enquanto tal, como as que apontam em sentido diverso, desde que coerentemente fundamentadas. Assim como, por analogia, na atividade clínica, enquanto o mesmo não dispuser de um diagnóstico concreto, nunca poderá ocultar esse facto do seu doente e o deverá envolver ativamente nos processos de decisão inerentes à investigação das possíveis causas do mal que aquele padece, explicando-lhe o racional subjacente a cada passo, dizendo a verdade da forma mais adequada possível, não fomentando falsas esperanças, mas sem nunca transmitir a nefasta e iníqua desesperança. Equilíbrio difícil de ser alcançado, mas fundamental para se conseguir preservar o imprescindível lado humano da prática profissional. Como dizia, de forma sublime, o sociólogo e pensador António Barreto, num artigo publicado no início do mês de abril do corrente ano, no jornal “O Público” a este mesmo propósito, intitulado “O Valor do Humano”: “… mas o real valor do Humano não está na suficiência nem na presunção. O real valor do Humano está na generosidade e na entrega. Na procura e na humildade. Até na fragilidade. Por isso, é preferível a incerteza do biólogo, a dúvida do virologista e a cautela do médico, à certeza do político, à sofisticação do sociólogo e à garantia do economista”.
V)-Considerações Finais e uma Homenagem a três colegas
“Quando precisamos de tomar uma decisão e não a tomamos, estamos a tomar a decisão de não fazer nada” (William James, filósofo e psicólogo norte-americano, 1842-1910)
“A arte da previsão consiste em antecipar o que acontecerá e depois explicar porque não aconteceu” (Winston Churchill, político inglês, 1874-1965)
Uma das facetas mais nefastas, ou mesmo a mais radicalmente contra-natura da época que vivemos, é a pretensa transformação do Homem num ser supostamente assético, mesmo sabendo-se, de ciência feita, da vital importância para os fenómenos relativos à saúde e à doença, que o denominado microbioma humano desempenha (cuja massa é 10 x superior à das nossas próprias células), que no nosso genoma existe uma percentagem que se calcula em cerca de 8% que resultou da integração de um (endo)retrovírus, há milhões de anos, ou que os nossos “pulmões celulares”, as mitocôndrias, resultaram igualmente de uma incorporação de bactérias simbiontes há longuíssimo tempo. Tal como o é, igualmente, impedir a contemplação do sorriso espontâneo escondido pela máscara facial de alguém que acabou de ser agradavelmente surpreendido no meio deste turbilhão de energia negativa que nos circunda e asfixia, não podermos dar um abraço, um aperto de mão ou um beijo quando nos apetece, como sinal de afeto, de paixão, de reconhecimento ou por mera cortesia, perante alguém que acabamos de conhecer, aos que vemos todos os dias, dos que temos tremendas saudades ou aos que amamos. Porque a descodificação dos estados de alma que o médico deve procurar percecionar desde a primeira consulta ao seu doente, e que tanta importância têm para fomentar a imprescindível empatia e a indispensável confiança na relação médico-doente durante o ato médico, não são com certeza plenamente atingidas por intermédio de um mero telefonema ou de uma simples conversa por Skype, ainda que o recurso a estas metodologias de comunicação (e relacionamento?) possam, temporariamente, no atual contexto, ser um menos mau meio para obstar à sensação de abandono produzida pelo flagelo do silêncio que se vive em certos momentos recheados de incertezas e de indecisões no decurso desta terrível pandemia e que tanto atinge o doente quanto o médico.
Quando iniciei estas funções, estava perfeitamente convicto que poderia correr sérios riscos para a minha própria saúde. Por isso escrevi há dois meses uma mensagem emocionada aos meus doentes, onde dizia: “Queria comunicar-vos, com o coração bem apertado, mas com muita lucidez e determinação que, por imperativo de força maior, terei de deixar de vos receber em consulta, como sempre o fiz desde que terminei a minha especialização, já lá vão muitos anos. Esta atividade, certamente uma das mais nobres que um médico pode desempenhar, só poderá ser interrompida, quando algo se torna, ainda, muito mais importante. Para mim. Para vocês. Para TODOS. Assim, terei que passar a estar integralmente disponível para uma nova e muito absorvente tarefa de enorme responsabilidade: Coordenar a Comissão de Contingência do meu hospital no combate à SARS-CoV-2, causada pela infeção pelo vírus CoVID-19, batalha que não se pode, de modo algum, perder. Esta terrível pandemia mundial, irá começar a atingir proporções crescentes e com consequências dramáticas para muitos cidadãos do nosso País, o que exige que, à semelhança dos exércitos em tempos de guerra, o general vá ter de desempenhar as funções do soldado raso do seu batalhão. É o que vai acontecer comigo a partir da próxima 2ª Fª, dia 16 de março. Irei passar a estar 12 h consecutivas de 2ª a 6ª Fª no Hospital, totalmente absorvido em tarefas de coordenação … Passada esta tormenta, que ninguém é capaz de antever quanto tempo irá durar, tudo voltará à normalidade. Retomarei as consultas, quer no Hospital, quer no Consultório, bem como tudo o resto que é usual fazer. É fundamental que todos acreditem que isso é possível. Eu e vocês. Mesmo sabendo que, na realidade, tal pode, eventualmente, não vir a acontecer para alguns de nós, como se tem passado por esse mundo fora com muitas centenas de cidadãos, em especial no seio dos profissionais de saúde”.
Incertezas levam frequentemente a indecisões, e, estas, quando está em causa a saúde pública, podem produzir nefastas consequências para uma comunidade ou, mesmo, para um País inteiro. Muitas vezes opta-se por não decidir, devido ao medo das consequências de uma indesejável atitude precipitada aos olhos alheios. Noutras, é-se mais afoito e arrisca-se uma tomada de decisão, devido ao lógico receio de se ser acusado por outrem de não se estar a fazer nada. É evidentemente desonesto, do ponto de vista intelectual e ético, fazer julgamentos à posteriori, para quem está fora da responsabilidade inerente ao desempenho de funções que supõem a tomada de decisões que pesam sobre a sociedade ou, mesmo, numa comunidade mais reduzida, com eventual grande impacto, ou para quem não expressou atempadamente as suas opiniões a quem de direito e pela forma forma mais correta, ou seja, em primeira instância, à pessoa concreta, com o indispensável recato e, nunca, demagogicamente, na praça pública. É fácil criticar quem, num ambiente de tamanhas incertezas, fez determinadas opções e não outras, com uma determinada cadência, e não mais apressadamente, ou com um ritmo mais pousado. Mas, o facto, é que ninguém está realmente a salvo de críticas. Bem-intencionadas, entenda-se. Para que, da próxima, tudo corra melhor do que desta. Seja quem for o responsável em funções nessa altura. Sobre essa matéria, já escrevi, e não vou repeti-lo novamente. Mas certamente que irei permanecer atento e me manterei acutilante, leal e ponderado. Como sempre. Porque tal é condição de respeito pela dignidade de que todos são credores. Por questão de princípio. Mesmo os que erraram, embora não intencionalmente. Disso, tenho a certeza. Absoluta. É que não são só os políticos que devem ser responsáveis pelas consequências das atitudes que tomam. Os cidadãos, também. Porque, numa sociedade democrática, os direitos não estão divorciados dos deveres. E ninguém pode reivindicar o direito ao incumprimento em situações como a que vivemos, com base no alheio. Nunca. De modo algum.
O julgamento final de qualquer empresa deste género e nestas circunstâncias tão particulares, deve ser antes sobre a coerência intrínseca da estratégia implementada e as intenções que a ela presidiram, do que propriamente pelo resultado final obtido. Porque essa postura dá corpo ao lado humano da nossa vivência coletiva. Por isso mesmo, dedico este texto a três colegas meus. Um, cirurgião geral (Victor Rigueira), o outro, oftalmologista (David Martins), e a última, uma internista (Jamila Bathy). Embora, curiosamente, os dois primeiros sejam amigos entre si, penso desconhecerem aquilo que vou contar de seguida, a terminar esta reflexão. Ambos, tal como eu, no início, estariam convencidos de que esta pandemia iria ser verdadeiramente devastadora, e daí o dramatismo que se revestem. Mas, igualmente, a sua tocante simplicidade. O Victor, ao encontrar-se comigo logo depois de terminada a primeira reunião a que assistiram todos os Diretores de Serviço e o Conselho de Administração do Hospital e na qual expus o primeiro esboço da estratégia que achava mais adequada para fazer face aquilo que iríamos ter de enfrentar com uníssono esforço, disse-me, na presença do Diretor Clínico, olhos nos olhos, espontaneamente e a choramingar: Se um de nós tiver que adoecer e algo lhe possa vir a acontecer, que seja eu e não tu, porque fazes agora cá mais falta do que eu. O David, já aposentado, e certamente com a nostalgia inerente às recordações dos tempos em que trabalhámos lado-a-lado, mesmo sabendo que não sou crente, ao contrário da sua pessoa, não teve outra melhor expressão, ao antever o que me (nos) poderia vir a acontecer como consequência da doença que o (me) atemorizava, senão telefonar-me, logo que soube que estava empossado como Coordenador da referida Comissão do Hospital, chorando convulsivamente e exclamando a soluçar que iria passar a rezar diariamente pela minha saúde. Mesmo sabendo que tenho uma grande resistência física e anímica, as singelas atitudes destes dois colegas, a quem aqui quero prestar uma sincera homenagem, foram certamente alguns dos principais motivos de ter conseguido atravessar esta terrível provação permanecendo sempre igual a mim mesmo e sem nunca desistir ou vacilar. Ao primeiro, não hesitei, mesmo contra a regras recomendadas, a abraçá-lo, comovido. Ao outro, na impossibilidade de interagir presencialmente, respondi-lhe telefonicamente com a voz titubeante de emoção: Obrigado amigo. Quanto à Jamila, minha ex-colaboradora no Serviço que dirijo, agradecer-lhe-ei eternamente o facto de me ter possibilitado ter tido a minha única experiência profissional num modesto hospital da Guiné Bissau, não imaginando qualquer um de nós o quanto isso viria a ser importante para mim nestes conturbados tempos. Jamais o esquecerei.
Setúbal, 2020/05/18