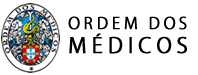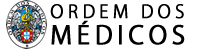Autora: Isabel do Carmo, especialista em Endocrinologia, professora da FML
Não há raças humanas. Só há “raças” humanas nas cabeças dos racistas, pois permite-lhes fazer classificações e distinções, uma longa história que permanece na actualidade. Há racismo, há desigualdade e há pobreza. Estas três realidades são o caldo ideal para a opressão e a exploração. A desigualdade coloca uns acima e outros abaixo. Ser pobre é um sofrimento permanente. Ser pobre e ter a pele suficientemente pigmentada como sinal distintivo é somar razões para o sofrimento. E para a revolta também. Como se dizia em um dos últimos planos dum filme de Spielberg “ser mulher, ser pobre e ser negra é uma das piores condições para um ser humano”.
A verdade é que não há raças humanas. Esse é um conceito do século XIX, que percorreu todo o século XX e que ainda hoje está aí. Havia livrinhos com esse mesmo título Raças Humanas, onde se representavam pessoas com a sua localização geográfica e uns trajos entendidos como regionais, com penas, palhas e umas lanças nas mãos. Este mesmo conceito de raças inspirou as exposições pela Europa fora a que se chama os Zoos humanos, onde as pessoas trazidas de África e da América do Sul eram expostas em recintos cercados dentro das cidades europeias, vestidas com os seus “trajos regionais”, em parte despidas, porque na terra delas faz mais calor, colocadas num cenário apropriado. À volta os europeus contemplavam e comentavam estes seres, que para eles olhavam espantados. E humilhados, com certeza. Estamos a falar do século XX muito depois da abolição da escravatura. Portugal representou esse papel com gáudio na Exposição do Mundo Português e ficou registada a indignação de senhoras portuguesas por os respectivos maridos irem ver repetidamente a africana Rosinha, exibida tal como entendiam que vivia em África. Felizmente que houve bastantes fotografias, filmes e reportagens de jornais, senão corria-se o risco de dizerem que se estava a inventar. Se pensarmos que as comunidades africanas não têm esta memória colectiva, estamos enganados. Foram protagonistas os pais, os avós, as avós, os bisavôs. À distância de uma a três gerações. Como muitos brasileiros actuais se lembram da avó índia que foi “pega-no-laço” (isso mesmo, caçada a laço) ou do bisavô que já foi “ventre livre”, ou seja que ainda estava no ventre da mãe, quando esta foi libertada pela “Lei de Ouro”. Ora, raças, só existem de facto para animais que os criadores obrigaram a cruzarem-se selectivamente. Também houve tentativas com os humanos, mas não resultou…
Quanto a nós, seres humanos, usando palavras de taxonomia, somos do género homo, da espécie homo sapiens e da subespécie sapiens sapiens. Todos. E depois disto não há mais subdivisão nenhuma e o estudo do genoma humano assim tem provado. Tem provado também que ao longo de milhares de anos nos fomos cruzando, de sul para norte, de norte para sul, de leste para oeste, de oeste para leste, porque as populações humanas não assentavam arraiais, iam à descoberta. É há pouco tempo que nos sedentarizámos. Que todos viemos de África já sabemos. E a pigmentação da pele foi-se perdendo por selecção e adaptação à medida que as pessoas saíam das zonas com maior incidência do sol para caminharem lentamente no sentido dos polos. A maior ou menor pigmentação da pele vai seguindo a latitude.
Em África as populações são mais pigmentadas quanto mais próximas do Equador. E bem claros no norte da Europa aqueles que só têm luz solar durante poucas horas do dia durante muitos meses. Mais pigmentados defendidos do sol, mais despigmentados maior síntese de vitamina D na pele. E entre uns e outros fica uma escala de pigmentação. Que nós reavivamos ao sol, na praia, porque muitos e sobretudo muitas, gostamos mesmo do tom bronzeado. Todavia, na longa história da humanidade, sobretudo antes de nos sedentarizarmos, misturámo-nos bastante e ainda bem. Foi o que salvou a espécie. Misturando-nos, embora não o soubéssemos, evitámos a concentração de genes “maus” que podia ter sido fatal. É o caso de populações ainda existentes, que os geneticistas classificam em “gargalo de garrafa”, com pronunciado isolamento e endogamia, que são mais vulneráveis e mais propensas a certas doenças. Mas nós, a generalidade dos humanos, somos todos mestiços. Felizmente. Misturámo-nos ao longo de milhares de anos. Todavia, apesar das evidências crescentes da ciência, a palavra e o conceito de “raça” mantém-se nos comentadores da comunicação social, escrita e falada, para não falar dos comentários que circulam nas redes digitais. E o mais grave é que se mantém no meio científico. Não é raro que médicos, alguns jovens colegas meus, ao descreverem a história clínica, coloquem à cabeça do texto as expressões “raça caucasiana” (supostamente nós, os europeus) ou “raça negra”, quando a pele é mais pigmentada. Nós, caucasianos? A classificação já é um pouco mais discreta do que “arianos”, mas podemos perguntar-nos se viemos mesmo directamente lá do Cáucaso. O estudo do património genético da população portuguesa mostra que viemos de muito sítio e uma boa parte de populações africanas sub-saharianas, não no tempo longínquo do out of Africa, mas no tempo histórico bem mais próximo. E o mais interessante é que a “raça negra” para os jovens que inconscientemente o escrevem e para a generalidade das pessoas é assim descrita mesmo que a pessoa tenha três quartos europeus e um quarto africano. Algo nos lembra o “white” e “not-white”, não é? Tal como a expressão “pessoas de cor” usada mesmo por cientista sociais de em tradução de color people. Porque nós os europeus somos transparentes, não é? Não temos cor?
Este racismo implícito na linguagem na maior parte das vezes nem é consciente nem intencional, mas traduz muitos séculos em que uns dominaram e outros foram dominados. E os dominados tinham uma pigmentação da pele que os distinguia. Alguém se lembra, ao falar de um escandinavo, com características bem diferentes das nossas, de dizer “indivíduo de raça nórdica”? Pois é, há diferentes e diferentes… E também percebo que os denominados “negros” assumam orgulho em o ser, mesmo que no seu corpo estejam muitos ascendentes “caucasianos”. Eu também o faria. O domínio e a exploração de outros povos são ainda muito recentes e fazem parte da nossa história contemporânea.
Os escritos do general Kaúlza de Arriaga sobre as populações africanas têm apenas umas dezenas de anos. Os filhos mestiços de alguns militares das tropas coloniais que por lá ficaram nas ex-colónias, são agora homens e mulheres maduros. Há esquecimento colectivo? Não há. A esta memória histórica, a maior parte das vezes subjectiva, mas presente, soma-se a desigualdade e a pobreza, que muitas vezes coincidem com estas características da pigmentação da pele. Os 20,7% de crianças e jovens e os 18,3% do total da população portuguesa que em 2016 viviam em pobreza não são todos de pele mais escura. É uma vergonha que percorre bairros de várias cores. Mas se fizermos a análise a fracções da população, ver-se-á que para aqueles que são classificados de “negros” a percentagem é incrivelmente maior. Tal como a desigualdade.
Segundo os especialistas, nos últimos 30 anos e nos países da OCDE o rácio entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres subiu de 7,1 para 9,5 vezes e há uma forte associação entre a desigualdade e a pobreza. Em Portugal, durante a troika este último índice subiu para 10,6. Quem o diz não são radicais de esquerda, mas estudiosos da pobreza publicados em respeitáveis edições como a da Fundação Francisco Manuel dos Santos (Carlos Farinha Rodrigues e colaboradores). Mais uma vez, se aplicarmos o estudo que foi feito para toda a população portuguesa a fracções de portugueses com pele mais escura, este número sobe muito. Os bairros “problemáticos” como o da Jamaica, acumulam tudo – serem olhados com racismo, conterem pobreza e sofrimento e sentirem gravemente desigualdade. Isto gera revolta e a revolta é desordenada, às vezes ela própria injusta. Queríamos uma revolta “organizadinha”? Não costuma haver. Organizada e pacífica foi a manifestação convocada pelos jovens para o Terreiro do Paço e sabemos como acabou. Problemática é a nossa sociedade. E o nome de Jamaica é bem lembrado. Foi nessa ilha das Caraíbas que os ingleses escravocratas, nem melhores nem piores que os portugueses, desenvolveram a cultura do açúcar à custa de remessas sucessivas de escravos trazidos de África. Até que estes se revoltaram, estabeleceram comunidades livres nas montanhas e deram que fazer aos ingleses. Mas gente “caucasiana” é outra coisa…