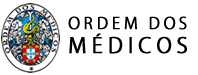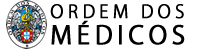Autor: M. M. Camilo Sequeira, Médico aposentado
COVID 19. Uma peste social
Os coronavírus são parceiros que coabitam com os seres humanos há muito tempo. Foram identificados como grupo original há cerca de 80 anos e souberam-se agressivos há 60 com duas estirpes potencialmente geradoras de doença respiratória grave. Mas a grande maioria causa patologia menor. O agora chamado 19 é pauciagressivo como a maioria dos membros da família, mas revelou-se altamente contagioso. E tem ou parece ter incapacidade para gerar imunidade definitiva. Outra das suas características é ter mortalidade baixa e selectiva: de facto mata (percentualmente) um número reduzido de doentes sendo quase todos velhos e imunodeprimidos.
Estas especificidades fazem dele um agente que a partir do momento e do local em que se identifica se sabe que irá dar a volta ao mundo pela facilidade como nos contagia. E, quiçá, até mais do que uma por não criar anticorpos que o contrariem.
Sabemos que como agente pauciagressivo contaminará, quase inexoravelmente, cerca de 70 a 80% da população mundial embora alguns destes nunca o saibam. Outros suspeitá-lo-ão por, no período de difusão da nova doença, terem clínica inespecífica de febre e tosse. O outro seu sinal importante, dificuldade respiratória não-ansiosa, será pouco frequente pois só estará presente na rara (percentualmente) complicação pulmonar.
Este contexto clínico e social, doença pouco agressiva com disseminação mais ou menos generalizada, está a ser internacionalmente acompanhado como se fosse uma pandemia catastroficamente destruidora de vidas. Promovendo-se medidas políticas, com apoio médico, que pretendem dificultar ou impedir o contágio como se isso fosse possível, que implicam o bloqueio quase total do fluir normal da vida quotidiana.
Há e não apenas nos vendedores de notícias, um consciente ou inconsciente promover de pânico face a um desconhecido, um mórbido contínuo de informação irracional com referência a mais um caso suspeito ou confirmado, a mais um morto sem qualquer contextualização da morte em causa, com uma repetitividade acrítica do já dito e redito e com pedidos de opinião sobre uma delicada questão científica aos ignorantes espectadores para, pelos telefones das televisões, publicitarem estas “opiniões” como se fossem de autoridade. Há, enfim, um ignorar total dos casos recuperados sem quaisquer sequelas, promovendo-se o medo irracional de se poder morrer em breve por uma causa invisível e incontrolável.
Política
É difícil aceitar que os que vendem notícias as promovam da forma que julgam mais rentável mesmo sabendo que com graves consequências no bem-estar colectivo e é complicado perceber que as estruturas representativas, técnicas e políticas, não o consigam evitar.
A forma como o problema clínico é tratado, quer pela OMS quer pelos seus equivalentes nacionais, parece mostrar uma grande desatenção aos efeitos colaterais, de saúde colectiva, dessas medidas. Porque esta doença é altamente contagiosa mas tem uma periculosidade letal superior à do vírus da influenza mas muito menor que a de outros vírus que “andam por aí”. E como todas as medidas de profilaxia devem ter um sentido útil para o total da comunidade os planos de limitação de contactos, ou da vida relacional ordinária, têm de tentar satisfazer esse propósito. Percebe-se que fechar os locais de concentração de pessoas pode atrasar a contagiosidade. Mas com os serviços de saúde preparados não se altera a mortalidade que esses contactos poderiam acarretar. Mormente porque o vírus não tem, até agora e nesta versão imunológica, mostrado qualquer sinal de poder alterar a sua específica mortalidade selectiva já reconhecida. Não seria mais avisado procurar proteger quem está sob tratamento imunossupressor ou quem tem uma imunossupressão crónica através, aqui sim, da restrição de contactos mas associada a um apoio assistencial domiciliário e respectiva protecção social de direitos mormente salariais? E sempre com o cuidado de não lhes criar a ilusão de que ficariam inequivocamente protegidos porque sabemos ser impossível alcançar tal objectivo.
Mas a ter de proteger-se alguém e a haver alguém que justifique profilaxias adaptadas parece que devem ser estes concidadãos os beneficiários da medida restritiva e não a totalidade de uma população que, bem ou mal, mais depressa ou mais devagar, vai entrar em contacto com o vírus. E ao se desdramatizar a agressão da pandemia de forma cientificamente adequada estar-se-ia a oferecer um apoio pessoalizado a quem com ele pode, de facto, beneficiar.
Claro que não se duvida da boa-vontade e do sentido útil de quem tem de decidir em tempo de crise. Mas também não se pode aceitar passivamente um conjunto de metodologias de reacção à agressão “Covid19” que até podem criar a convicção, grosseiramente errada, de poderem ser aplicadas com o mesmo êxito face a um amanhã, talvez mais próximo do que o julgamos, que seja de facto catastroficamente pandémico. Ou seja esta generalização pode criar um imaginário falso de segurança no todo da população que num amanhã potencial reduzirá a sua vontade de colaborar quando esta colaboração for efectivamente necessária.
E não são os números de potenciais e reais mortos que alteram esta forma de interpretar a presente ameaça do coronavírus 19. A população de risco está identificada na sua maioria. E as medidas orientadas para a sua específica protecção reduzirão esse risco conhecido enquanto os serviços de assistência apoiariam todos os casos complicados graves.
E os que se desconhecem imunodeprimidos porque sofrem de doença consumptiva ou doença crónica ainda não expressa semiologicamente serão risco seja qual for o contexto “nada se podendo fazer para os excluir do mesmo”. Mas quando tiverem doença, como é provável, serão tratados como se procede face a qualquer patologia: identifica-se o quadro, programa-se o tratamento, acompanha-se a recuperação, apoia-se a reintegração social e, no caso, protegem-se de recaída face ao risco que nessa altura já se lhes reconhece.
Assim se cuidava de quem, de facto, precisava de cuidados sem interferir demasiado nas actividades quotidianas mesmo que os casos que implicassem tratamento domiciliário ou outro fossem muitos e os locais de trabalho tivessem menos funcionários. Mas funcionavam.
Até porque o encerramento de todas as instituições, a interrupção do fluxo de materiais, o afastamento dos empregados do seu local de trabalho “para não serem infectados” parecem valores questionáveis no contexto deste tipo de agressão por agente causador de doença predominantemente minor e até contraria o princípio teórico do absentismo por doença.
O qual dá direito a quem trabalha, “sem perda salarial”, a não o fazer quando está doente, a acompanhar familiar dependente em fase de agudização ou em dependência temporária de causa diversa (aqui se inserindo o apoio de mãe ou pai a filho doente), a não comparecer no local de trabalho se for identificado como infectante ainda que sem ter inequívoca expressão da doença como acontece com alguns tuberculosos. Mas este direito não é reconhecido nem tem sentido que o seja a quem não trabalha porque pode ficar doente (excluindo os de risco antes referidos e o direito de excepção que cabe ao Estado).
Economia
A vida de hoje reconhece-se como a melhor de sempre sendo muitos os que acreditam que este bem-estar resulta da liberalização dos agentes económicos, com redução da intervenção regularizadora do Estado, que permitiu criar-se uma economia ou um modelo comercial globalizado. Hoje no planeta todos negoceiam com todos, todos os dias, todos os anos.
Admitamo-lo.
O que é certo é que há mais salários assegurados em continuidade; há mais diversidade no tipo de empregos; há mais protecção de quem trabalha; há direitos de representatividade e sua regular discussão; há revisão periódica das condições de trabalho; há propósitos de alcançar para trabalho igual salário igual; há propósitos de paridade em direitos e deveres entre trabalhadores homens e mulheres; há o reconhecimento, pelo menos teórico, de que são os rostos de quem trabalha que identifica cada local de trabalho.
Infelizmente não são valores generalizados pelo mundo nem sequer pelo mundo ocidental que muitos consideram o mais civilizado (eu partilho este preconceito. Reconheço o valor de outras formas de viver mas acredito que o princípio “liberdade de fazer como se entender adequado sem agredir o outro” tem no ocidente uma expressão sem paralelo noutros locais. É um dos meus preconceitos e o que digo e escrevo está condicionado por ele).
No entanto este bem-estar sem equivalente em qualquer outra época não é um mundo perfeito. E lamentavelmente é-o cada vez menos pois o padrão que se tem imposto nos anos recentes é um acentuar das desigualdades sociais defendidas como suporte desse bem-estar. Ou seja entende-se que para que a maioria tenha um pouco de felicidade existencial esse pouco deve ser sempre muito pouco porque só existe como fruto, como produto marginal criado pelo muito fruído por cada vez menos concidadãos.
É um raciocínio “redondo”. Tu trabalhas para mim; eu ganho muito; eu dou-te uma pequena parte desse ganho; tu continuas a trabalhar para mim porque precisas do que te dou; eu entretanto dou-te menos para poder dar o que te dou a ti a mais como tu; eu faço-o assim porque sei que há muitos a quererem o que te dou; eu satisfaço assim o desejo de cada vez mais pessoas como tu; eu ganho por isso muitíssimo mais e assim crio novos espaços de empregabilidade; eu vou dando cada vez menos a cada vez mais para todos ficarmos felizes…
Esta argumentação primária é basilar para o capitalismo e é respeitada porque se considera ser a promotora de tudo que de bom temos alcançado no último século. Mas também é a base da acentuação das actuais desigualdades e a justificação para se promoverem medidas de gestão empresarial consideradas como exemplares por criarem valor imediato mas, de facto, não avaliadas à distância em termos das suas potenciais consequências menos boas. A regra é simples: faça-se! Depois se resolverão os problemas resultantes.
Mas quando os problemas são “coronavírus”, sim este texto é sobre o coronavírus, afinal tudo parece nunca ter tido sentido. E planificam-se “soluções” de circunstância com prejuízo de todos mas principalmente dos que nada ou pouco têm.
Porque bloquear o fluxo de materiais promove o fecho dos negócios mais frágeis. Cria angústia e deixa desamparado o trabalhador que, pobre mas feliz pela continuidade do trabalhar, se confronta com a incapacidade de satisfazer compromissos, com a insegurança quanto ao retomar das funções anteriores, com a percepção de que o que, com esforço e dedicação, tinha alcançado se pode ter perdido sem alternativa.
Ao se perturbar-eliminar o conjunto funcional quotidiano, o posto de trabalho, cada um de nós receia, quase sempre com razão, que será o desfavorecido que irá pagar os custos de um incidente previsível, como uma pandemia, para o qual pouco contribuiu. Pagá-lo-à com perda do emprego, com redução dos salários futuros, com redução ou descontinuidade de pensões, com agravamento do custo de bens essenciais. Enfim e em última análise com o acentuar da desigualdade que foi um dos geradores da situação actual. E parece-me óbvio que se esta se acentua também aumenta o risco de este tipo de incidente, ou similar igualmente perigoso, se repetir em breve. Ou deste de hoje ainda se vir a manifestar de forma mais agressiva.
A desigualdade resulta de vários actos de organização da vida económica que se foram afirmando e impondo como “o melhor para o progresso conjunto”. Refiro apenas dois exemplos: (1) a deslocalização empresarial foi determinada por vontade dos “mercados” apenas para se obter um lucro acentuado imediato tendo-se concentrado no oriente da mão-de-obra barata, semi-escrava, a produção massificada de muitíssimos bens. Os necessários e os que o não sendo nisso foram transformados de forma artificial pelos tais “mercados”; (2) a desflorestação sistemática das poucas áreas virgens ainda existentes para produção de bens de valor secundário persiste sem qualquer cuidado com os riscos que acarreta apenas porque se julga oferecer um lucro elevado aparentemente fácil e rápido. Não sendo feita para produzir produtos alimentares, pois já temos disponíveis muito mais do que aqueles de que precisamos, mas antes para se produzir matéria prima vegetal para combustíveis e afins decerto inúteis como bens de primeira necessidade. Fingindo-se não conhecer o risco de estas desflorestações nos colocarem frente a frente com reservatórios de agentes cuja potencial periculosidade nem imaginamos. Apesar de se suspeitar que alguns desses riscos poderão ser brutalmente letais e que esta letalidade poderá ser ubíqua bem ao contrário do que o novo coronavírus provoca.
(Há um terceiro resultado da organização da vida económica que não refiro porque já é um contexto sem retorno. Mas não se pode ignorar que a mudança do clima já está a deslocar para norte diversos seres vivos, parasitas por si ou transportados, que poderão ser novos agressores nos locais onde criarem habitat).
Em termos económicos muito mais vantajoso que fechar Escolas e os locais de encontro negocial perante a agressão de um vírus patologicamente pouco perigoso era, como é óbvio, esse risco ter sido prevenido. Porque o importante, o necessário, o que já devia ter sido feito, é pensar a desigualdade como um grande agressor de características desconhecidas que, se continuar a ser ignorado, destruirá seguramente tudo o que temos como melhor do nosso viver. A desigualdade social em progressiva e continuada acentuação cria ou facilita a eclosão dos factores que a limitam. Como é o caso de uma pandemia.
Saúde
Mas esta agressão viral não tem na desigualdade social o seu único promotor.
Transcrevo de “A Origem das Espécies” (sub-capítulo “Da natureza dos obstáculos à multiplicação”) em tradução livre: Quando uma espécie graças às circunstâncias favoráveis se multiplica desmedidamente numa pequena região as epidemias declaram-se nela muitas vezes (….) algumas destas epidemias parecem provir da presença de vermes parasitas que por uma causa qualquer, talvez por causa de uma difusão mais fácil no meio de animais muito numerosos, têm um desenvolvimento mais considerável (…) uma espécie de luta entre o parasita e a sua presa….
Darwin publicou este texto há 161 anos. Nele afirma, por observação directa como era o científico de antanho, que uma sobrepopulação implica um risco acrescido de epidemia e diz ainda que ocorre nesse contexto uma espécie de luta entre agressor e agredido.
Hoje, com suportes científicos imensamente mais sofisticados para nos darem uma visão ainda mais correcta sobre a relação entre sobrepopulação e seus mecanismos “automáticos” de equilíbrio, ouvimos os paladinos do bom governo dizerem “que temos de fazer mais crianças para tornar possível manter o tipo de estar bem que temos agora e queremos continuar a ter”.
Parece-me ter sentido afirmar que se trata de uma singular contradição entre perspectivas científicas separadas por menos de dois séculos. E também parece razoável afirmar-se que a interpretação do século XIX é mais acertada que a do século XXI pois quando somos confrontados com uma agressão, mais ou menos consequente da sobrepopulação, reagimos como se ela fosse inesperada e imprevisível mas “sempre” de controlo possível. Ainda que através de medidas que se vão adaptando à persistência da agressão assentes numa confiança inabalável nas tecnologias salvíficas.
Mas a sobrepopulação é um problema político de saúde pública. Pelo espaço ocupado que é finito mormente se considerado fronteira a fronteira, pela incapacidade de bem administrar as grandes concentrações de pessoas com múltiplos sentires e objectivos de vida, muitas vezes conflituais mesmo que não absolutamente contraditórios, pelo patogénico físico e psíquico que a ausência de liberdade acarreta quando esta é tida como direito adquirido inalienável.
Um surto pandémico pouco agressivo como o deste coronavírus deve ser usado como suporte para se discutir, sem qualquer restrição, a problemática social do excesso populacional. Este é um tema abrangente que impõe o confronto opinativo e consequente cooperação de várias competências. Exigindo de todas elas coragem, até inconveniência ou incorrecção política, para apresentar novas formas de interpretar o fenómeno social em abstracto, de imaginar soluções alternativas ao pretendido normal, para idealizar desenvolvimento e as novas diversas expressões deste. E a saúde da sociedade como bem ou interesse de todos obriga os Médicos a saírem do conforto da estatística e do conceito de que o extraordinário deve ser desvalorizado perante um ordinário conhecido e que se julga permanentemente repetido. Não têm razão. O extraordinário numa sociedade em mudança a velocidade que se sabia ser grande mas que é agora de uma rapidez inimaginável há vinte anos, torna-se um ordinário que exige resposta imediata “porque se sabe que esse novo ordinário o será apenas durante meia dúzia de anos”. Logo surgirá outro e depois outro e sempre um outro de novo. É este o contexto de futuro previsível do devir de amanhã… que já reconhecemos ontem.
Futuro?
A geração a que pertenço beneficiou das vantagens de viver num tempo com memória do dramático de um mundo pós guerra generalizada e catastrófica. Foram 50 anos em que a igualdade foi tentada e parcialmente conseguida em alguns espaços nacionais que se reconstruiram sobre os escombros que conhecemos por fotografias, por filmes e por reconstituições que nos queriam e querem alertar para o que foi um passado que está muitíssimo perto de nós.
Será que esta geração (a que pertenço, repito) tem capacidade para manter o modelo de crescimento partilhado do meio século imediatamente pós II Grande Guerra, pós Holocausto, pós destruição massificada de pessoas e bens?
Infelizmente julgo que não. Esta geração é demasiado passado para imaginar a construção de um futuro tal como este é absolutamente necessário para os jovens de hoje e, muito principalmente, para os vindouros, para os que só existem como possibilidade. Sim os filhos dos filhos dos nossos filhos.
E perante um contexto de mudança absolutamente necessária, com defesa do direito ao trabalho socialmente bem remunerado como princípio e como prática e com defesa do direito a ter-se naturalmente tempo de lazer também como princípio e prática, não parece expectável que esta revolução possa ser promovida pela geração que está hoje no poder. Porque o que se deseja (digo-o eu que pertenço à geração desse passado que o presente de hoje é) são alterações de mentalidade, de orientação social, de conceitos económicos, de metodologias de administração do colectivo. São enfim novos valores acerca de bem-estar, de ter dinheiro, de satisfação por existir, de valorização do que é comum e partilhado com subalternização dos critérios de crescimento centrados exclusivamente no benefício do próprio e da sua corte. Trabalhar menos ganhando mais não tem sentido para quem se formou na versão social de que trabalhar sempre mais é que produzia valor.
Esta novíssima perspectiva de futuro obriga que se entregue o mando da sociedade aos mais ou menos jovens de cerca de 40, 45 anos.
Claro que percebo quem disser que este grupo social que vive agora próximo do poder tem apenas como propósito mimetizar os seus chefes para vir a ser como eles quando tiverem a sua idade. É verdade. Mas também é verdade que têm, pela idade e pelo já vivido, uma plasticidade no olhar para o mundo que o poder actual não possui. Por isso tem de ser razoável ter esperança nas suas potencialidades como criadores de inovação. E também tem sentido acreditar que alguns actuais excluídos da proximidade com o poder, perante o recuo ou o afastamento da geração mais velha, sintam que têm uma palavra a dizer na construção do amanhã da sua velhice e do presente e futuro dos seus descendentes. E como é próprio da democracia quantos mais se afirmarem como vontade, como opinião, como parceiro sério de qualquer outro, mais fácil será encontrar o caminho que melhor satisfaça o interesse da maioria. Será uma nova expressão do poder resultante dessa maioria, liberta dos vícios da actual, que vai ter que fazer o impossível para vencer as batalhas da desigualdade social, da sobrepopulação, da insatisfação sem objecto, da desconfiança em relação ao amanhã, enfim, para vencer as batalhas que permitam perceber os riscos de só se pensar nos coronavírus quando estes se revelam pelo sofrimento generalizado que provocam.
Mas a alteração geracional não deve abranger apenas os decisores políticos. Devemos afastar também os gerontocratas que representam os empresários e os que persistem numa luta sempre igual nos Sindicatos em representação dos trabalhadores. Os objectivos de ambas as partes têm de ser repensados e até a negociação tem de ser orientada com novos propósitos adequados a cada tempo vivido. E com obrigação de uns e outros serem continuamente responsabilizados pelos resultados das mesmas.
E vale a pena afirmar que mudar visões do mundo sem uma revolução dramaticamente violenta será mais uma prova de que em democracia tudo deve ser possível quando se pensa fazer bem o que bem deve ser feito.
Será também esta geração que preparará o mundo, todo o mundo, quer o que já consideramos como desenvolvido quer o outro que julgamos distante de nós, para combater e vencer, impedindo a sua eclosão, os diferentes agentes que, quando somos demais e demasiado desiguais, se revelam “sempre” sob a forma de catástrofes. Violência, violência, violência.
O coronavírus causador da doença COVID 19 não é esta catástrofe. Mas a sua presença entre nós já nos ensina que até uma agressão com patologia predominantemente minor tem consequências sociais gravíssimas, diversas, de complexa gestão útil.
E apesar de não ser a catástrofe mortífera que devemos recear percebemos que qualquer alteração nos direitos de convivialidade mormente no direito ao trabalho que seja justificada por este vírus demonstrará que mesmo sem ser catástrofe a catástrofe terá acontecido…