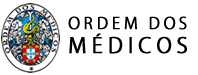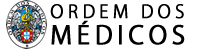Para dar uma visão mais aprofundada sobre os temas atuais e sobre as suas implicações em matéria de saúde pública, Miguel Guimarães deu uma entrevista ao Vozes ao Minuto.
O setor da saúde em Portugal foi altamente impactado, nos últimos dois anos, pela chegada e persistência da Covid-19. Que caracterização podemos fazer desta etapa da pandemia em que agora nos encontramos?
A pandemia está, neste momento, numa fase diferente, em que temos de proteger as pessoas mais frágeis e que, quando ficam infetadas, têm doença mais ou menos grave e têm de ser internadas; bem como evitar que estas pessoas morram. Estamos a falar de pessoas mais velhas, com mais de 60 anos, e de pessoas que tenham um sistema imunitário deprimido (doentes transplantados ou com doenças oncológicas que lhes deprimam o sistema imunitário). Porque estas pessoas são aquelas que, quando contraem a doença, não têm grande proteção das vacinas, porque estas funcionam pior nas pessoas imunodeprimidas.
Isto significa que nós temos de utilizar alguns dos meios terapêuticos que já existem e estão disponíveis na Europa e que, infelizmente, ainda não estão disponíveis em Portugal – nomeadamente os anticorpos monoclonais neutralizantes que, no fundo, funcionam como substituto da vacina no caso dos doentes imunodeprimidos. Damos os anticorpos diretamente aos doentes para eles estarem protegidos tal como nós estamos protegidos. Isto devia estar a ser feito desde já, porque era uma forma boa, diria até eficaz, de protegermos as pessoas, de termos menos mortes e de termos menos doentes internados. Esta é uma fase diferente em que não me parece que seja necessário voltar atrás e instituir novamente medidas restritivas. Mas é essencial proteger as pessoas mais frágeis e depois proteger, já agora, com a dose de reforço da vacina, todas as pessoas que sejam mais velhas ou imunodeprimidas, mas também os profissionais de saúde e outros profissionais que lidam com várias pessoas diariamente.
Falámos precisamente do facto de estarmos agora a viver uma fase da pandemia bastante diferente daquela que vivemos nos anos anteriores, derivado também da alta taxa de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Podemos esperar que, daqui para a frente, não voltemos a ter novos picos ‘descontrolados’ da doença, tal como aconteceu anteriormente?
Eu acho que a partir daqui tudo isto vai estabilizar. Não quer dizer que não possa, de hoje para amanhã, aparecer uma variante diferente que seja, por exemplo, resistente às vacinas e que possa causar alguma perturbação naquilo que é a evolução que a pandemia está a ter. Mas, em princípio, depois também associada a uma vacinação anual, sobretudo da população mais frágil – tal como se faz uma vacinação para a gripe sazonal -, a pandemia ficará controlada e numa posição em que nós temos de pensar mais nos doentes que ficaram para trás por causa da pandemia.
E que desafios trouxe esta pandemia aos médicos portugueses e ao nosso Serviço Nacional de Saúde?
O grande desafio que tivemos, desde logo, foi a pandemia em si, porque nós não conhecíamos a doença inicialmente. A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Ministério da Saúde não se prepararam devidamente para combater esta doença. As declarações iniciais da doutora Graça Freitas apontavam até que esta doença não iria chegar a Portugal. Eu lembro-me até que nós chegámos a andar, sem equipamento de proteção individual, a tratar doentes infetados. Não reforçámos aquela que era a nossa capacidade de resistência ou resiliência na área dos cuidados intensivos. E, portanto, fomos depois, graças ao trabalho verdadeiramente extraordinário dos profissionais de saúde, dando resposta aos desafios que foram sendo colocados.
Este foi um dos aspetos positivos no combate a esta pandemia. Nós conseguimos dar uma resposta importante a esta pandemia, não graças a decisões políticas, mas a decisões dos profissionais de saúde e dos médicos, em particular. Foram absolutamente notáveis na definição de planos de contingência e na resposta que deram às necessidades dos doentes. Isto sem prejuízo do que aconteceu e que era quase inevitável: muitos dos nossos doentes que tinham aquelas patologias habituais (pessoas com enfartes agudos do miocárdio, com AVC ou doenças oncológicas) ficaram para trás. Na fase muito inicial da pandemia, em abril ou maio, os próprios doentes tinham receio de ir aos serviços de urgência. As próprias pessoas evitavam ir às urgências quando tinham situações agudas, potencialmente fatais, como é o caso de um enfarte agudo do miocárdio.
O que é que herdamos daqui: uma experiência que devia ser colocada em prática, nomeadamente naquilo que é a nossa capacidade de decisão e de antecipação dos problemas. E naquilo que é a própria transformação que o SNS precisa para estar em estado de prontidão para dar uma resposta mais eficaz aos desafios que podem vir a ser colocados – porque esta pandemia não vai existir isolada, podemos ter a certeza disso. Era importante que avaliássemos todos os aspetos positivos e negativos da pandemia e tirássemos daqui as devidas ilações para reforçar a nossa resposta na área da saúde.
A este propósito, pensa que a pandemia deixou a ‘descoberto’ algumas fragilidades do nosso Serviço Nacional de Saúde? Foram relatados inúmeros casos de serviços de urgência sem capacidade para admitir novos doentes e sem conseguirem dar resposta às necessidades de pacientes com outras patologias.
Durante a pandemia, Portugal foi o segundo país da União Europeia que deixou mais doentes para trás. Ou seja, em que mais doentes não tiveram acesso a cuidados de saúde que eram importantes para eles. Recentemente, o Tribunal de Contas fez um relatório sobre esta matéria em que mostra exatamente estes dados. O Ministério da Saúde devia ter tido um plano, diferente dos habituais que normalmente existem para recuperar os doentes que ficaram para trás. Mas a verdade é que isto não aconteceu. Aquilo que nós fizemos foi aquilo que sempre fizemos. Não tivemos um plano em rede, um plano extenso, nomeadamente na área dos rastreios oncológicos, para podermos identificar os doentes que ‘não têm rosto’.
A maior preocupação que nós temos, enquanto médicos, não são os doentes que estão nas listas de espera, pois estes nós sabemos quem são e estamos a resolver os seus problemas. O problema são os doentes que não entraram ainda no sistema de saúde. Esses doentes nós não sabemos quem são e podem chegar até nós, mais tarde, com doenças que são mais graves do que aquilo que seriam se fossem diagnosticadas antes. Estamos a pensar, por exemplo, em doenças oncológicas, que se fossem diagnosticadas atempadamente podiam ser curáveis e que, assim, podem já não o ser.
Quem tem responsabilidades políticas nesta matéria perdeu uma oportunidade para poder minimizar esta situação. Ainda o podemos fazer, ainda estamos a tempo para desenvolver um plano especial para tentar envolver uma rede fina que chegue ao máximo de pessoas que tenham diabetes, hipertensão ou doença oncológica, e não o sabem. Até agora isso não foi feito e qualquer dia já não faz sentido estar a fazê-lo.
E como é que a Ordem dos Médicos se posiciona relativamente às medidas de combate à pandemia atualmente em vigor em território nacional, nomeadamente no que diz respeito às medidas de isolamento?
Eu acho que há medidas que precisavam de ser revistas. Uma delas têm a ver com as normas de isolamento. Neste momento não faz sentido que uma pessoa que esteja infetada porque fez um teste, mas que não tem sintomas, fique isolada. Ora, uma pessoa assintomática muito dificilmente passa a infeção. E se esta pessoa assintomática utilizar máscara, especificamente uma máscara FFP2, estará protegida e a proteger as outras pessoas. Quer isto dizer que essas pessoas podiam continuar a fazer a sua atividade, evitando obviamente grandes aglomerados de pessoas, desde que utilizando a máscara em todos os locais, para proteger todas as pessoas que estão à sua volta.
Mesmo o isolamento para pessoas sintomáticas e que ficam em isolamento durante sete dias, penso que não faz sentido manter-se esse período. Estava na altura de rever este tempo de isolamento, que podia passar facilmente para os cinco dias. Desde o início que nós sabemos que, no caso de uma pessoa infetada com esta nova variante [Ómicron], é nos primeiros cinco dias que ela está mais infeciosa e que, a partir daí, a infecciosidade cai a pique. Portanto, eu acho que ter aqui uma alteração nesta matéria seria interessante.
Outra questão é o facto de todas as pessoas que neste momento são internadas para serem operadas terem de fazer um teste de PCR. Tal deve ser avaliado, com base na produção científica que já existe a nível internacional, no sentido de perceber se uma pessoa assintomática, mesmo tendo um teste positivo à Covid-19, não pode mesmo ser operada. Esta reflexão deveria ser feita porque nós acabamos por perder muitos tempos de bloco operatório, que são a coisa mais cara de um hospital, por termos muitas pessoas que testam positivo à doença. Mesmo para a pessoa que vai fazer uma pequena ou média cirurgia, ver a sua intervenção adiada por sete ou oito semanas, que é o que neste momento acontece, penso que é algo que tem de ser avaliado.
Já a utilização de máscara nos hospitais e nos lares, acho que isso deve continuar. É fundamental, de forma a protegermos as pessoas mais frágeis. E haverá um momento em que nós [profissionais de saúde], também, deixaremos as máscaras – sendo que durante a nossa atividade profissional tal vai-se manter por mais tempo e, especialmente, na época do inverno, em que existem mais infeções respiratórias. Para protegermos os doentes, por um lado, e os profissionais de saúde, por outro, para que eles também não fiquem doentes. E isso também é importante para a resiliência do nosso SNS.
Segundo números da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), noticiados pelo jornal Público, verificou-se a saída de mais de 2.500 médicos e enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde entre 2020 e 2021, em pleno contexto de pandemia. Porém, a mesma fonte dá conta de um saldo positivo de efetivos nos últimos seis anos. O que está aqui em causa, verdadeiramente? Existe ou não uma falta de recursos humanos?
No SNS, existe claramente. Não é um problema que vem de hoje, mas sim de há algum tempo atrás. A verdade é que nós temos no SNS falta de médicos, claramente, e de outros profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros.
Pode existir esse saldo positivo apontado, mas a verdade é que as urgências de Obstetrícia e de Ginecologia encerram; outras urgências, como as de Pediatria, também fecham; e que nós não cumprimos, numa percentagem excessivamente elevada, os tempos máximos de resposta garantidos, seja para consultas ou para cirurgias. Portanto, quando a ACSS fala nesse saldo positivo, eu não sei o que é que fazem aos profissionais de saúde: será que os médicos estão na reserva? É que nós não conseguimos perceber isso.
É indiscutível que nós temos mais médicos hoje do que tínhamos há dez anos atrás, mas também é evidente que as necessidades dos portugueses são muito maiores hoje do que eram nessa altura. Há cada vez mais doentes com doenças crónicas. A nossa esperança de vida aumentou de forma muito significativa. Neste momento, temos pessoas que conhecem muito melhor os seus direitos e que sabem que podem utilizar o SNS. As condições globais mudaram e nós [serviços de saúde] não conseguimos acompanhar essa mudança.
A reestruturação do SNS é, efetivamente, um tema que tem vindo a ser amplamente discutido, da esquerda à direita do espetro político. Na perspetiva da Ordem dos Médicos, em que dimensões o SNS precisa de evoluir?
Nós temos um SNS que, teoricamente, se destina aos 10 milhões de portugueses, mas a verdade é que o SNS não está preparado para dar resposta a estes 10 milhões de portugueses. Está preparado para dar resposta a uma parcela dos mesmos e, por isso, é que há cada vez mais pessoas com seguros de saúde. Se incluir a ADSE, entre 40% a 45% dos portugueses já têm um seguro de saúde. E porquê? Porque acham que é importante, para facilitar o acesso a uma consulta de Oftalmologia ou de Urologia, por exemplo.
É óbvio que não basta ter mais médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. É preciso que a resposta aos nossos doentes possa ser, de facto, enquadrada naquilo que é a genética do SNS. Naquilo que é a disponibilidade que o SNS tem para ajudar as pessoas nas diferentes áreas de intervenção do SNS. E há duas áreas, que são os pilares fundamentais para um serviço público de saúde que se pretende sustentável, que nós continuamos sem resolver. Uma delas é a educação ou a literacia em saúde. As pessoas não sabem quais são as situações agudas que implicam ir a um serviço de urgência ou quando devem ir a uns cuidados de saúde primários, em casos não urgentes. As pessoas não percebem ainda muito bem como se previne a diabetes, ou então não percebem a importância de não utilizarem açúcar no café ou nas bebidas, por exemplo. Tudo isto implica uma educação muito forte das pessoas. Aliás, a educação é uma área fundamental para a nossa própria sobrevivência.
E depois a questão da prevenção. Nós investimos muito pouco em ações de prevenção. É verdade que temos alguns rastreios, nomeadamente na área oncológica, mas nós devíamos ter muitas mais ações de prevenção para além dos rastreios, como já se faz noutros países. Mas a verdade é que, vendo o que é dedicado à saúde no Orçamento do Estado, vê-se muito pouco falar de prevenção. Isto é assim desde que o SNS existe. Mas é uma questão importante, porque isso é que nos permite ter uma população mais saudável, por um lado, e ter uma maior sustentabilidade do SNS, por outro.
Nos últimos dias, têm sido contabilizados inúmeros casos de problemas em serviços de urgência de Obstetrícia em Portugal – desde encerramentos temporários de serviços a condicionamentos vários. O que é que aconteceu aqui? Podemos esperar que estes constrangimentos se agravem daqui para a frente?
Nós temos de facto muitos médicos especialistas em Obstetrícia em Portugal, mas cerca de 50% destes especialistas trabalha fora do SNS. Trabalham no setor privado ou para o estrangeiro. Isto, na prática, significa que o número de especialistas que eu tenho neste momento no SNS não é suficiente para dar resposta às necessidades das nossas grávidas e das nossas mulheres. E isto é transversal às outras especialidades, em que os médicos são muito poucos. E como são poucos, não conseguem fazer tudo.
No caso dos blocos de partos, a situação ainda se agrava mais, porque muitos destes médicos têm mais de 55 anos. É verdade que muitos, apesar da idade, continuam a fazer serviço de urgência, mas há outros que deixam de o fazer. Não tendo especialistas suficientes, os hospitais contratam serviços médicos através de empresas prestadoras de serviços, o que ainda dá uma entropia mais negativa ao sistema. Isto porque, depois, estes médicos são remunerados em cerca de 40 ou 50 euros à hora por aquilo que são as horas extraordinárias que fazem, enquanto os médicos que vestem todos os dias a camisola do SNS e que estão no hospital todos os dias são remunerados, por essas horas extraordinárias, a cerca de 17 ou 18 euros à hora, para além das 50 horas que já têm de fazer. É uma diferença totalmente injusta e que não motiva nada quem está no SNS. E, portanto, cada vez mais as pessoas acabam por sair.
Esta situação, que é uma situação crítica, estende-se a várias áreas da saúde. É válida para a Pediatria, para a Anestesiologia, para a Cirurgia Geral. Ou seja, para um vasto conjunto de outras especialidades. A verdade é que esta situação tem vindo a acontecer e que não é propriamente nova, mas é cada vez mais grave.
E como é que é possível evitar que os profissionais de saúde decidam abandonar o SNS e transitar, nomeadamente, para o setor privado?
Para resolvermos o problema de fundo temos de ter como prioridade central recuperar e transformar o SNS. Temos de devolver a motivação e confiança aos médicos e aos outros profissionais de saúde. Isto significa respeitar e dignificar os médicos e a profissão médica; envolver os médicos nas decisões sobre o sistema de saúde; reforçar a importância da liderança médica e do trabalho em equipa; valorizar o trabalho, a formação e a investigação dos médicos, através da carreira médica. É preciso salários justos, de acordo com a intensa formação no ensino superior, com o conhecimento, a responsabilidade e as competências.
Temos de ter em linha de conta que o SNS, para sobreviver, precisa de ser transformado, precisa de ser mais competitivo e de um novo modelo de gestão, que permita que as unidades de saúde e os hospitais tenham autonomia, tenham flexibilidade na gestão, possam tomar decisões com base em orçamentos reais e não orçamentos fictícios. Ou seja, orçamentos adaptados àquilo que são as necessidades da população que os hospitais servem. Se nós não fizermos esta mudança nos modelos de gestão, adotando muitas daquelas regras que já são utilizadas no setor privado, é evidente que o SNS vai continuar a definhar e isso é extremamente penalizante para todos os portugueses. E, sobretudo, para as pessoas que têm mais dificuldades, porque o SNS é um grande fator de coesão social, pois permite combater as desigualdades em saúde. Eu diria que esta é uma prioridade nacional, devia ser um objetivo de todos os partidos políticos e devia ser exigido ao Governo que tornasse esta a prioridade das prioridades.
Segundo dados do Portal da Transparência, mais de 1,2 milhões de utentes estão atualmente sem médico de família. É também este um dos problemas mais vincados do SNS? O que explica estes números e que consequências pode ter a nível de saúde pública?
A questão da Medicina Geral e Familiar é absolutamente essencial, faz parte do pacote global daquilo que está mal. Mas é uma que tem um impacto muito grande e que tem uma força eleitoral muito forte. Se virmos o programa dos partidos políticos, todos eles prometem médico de família para todos os portugueses. Mas a verdade é que, depois de um partido ganhar as eleições, isso raramente acontece. Na altura em que foi Governo, o PSD já prometia um médico de família para todos os portugueses e não conseguiu cumprir. O PS tem feito a mesma promessa e também não conseguiu e, em vez de diminuir o número de portugueses sem médico de família, a verdade é que o mesmo está a aumentar. E isto tem repercussões extraordinariamente graves.
Felizmente, nós temos muitos mais médicos em Portugal do que aqueles que estão no SNS. Nós não temos propriamente falta de médicos. Mas temos falta de médicos dentro do SNS. No setor privado existem cerca de 1.700 médicos de família, especialistas. Se fossem contratados 600 destes médicos para o SNS, já havia médico de família para todos os portugueses. Se fossem ativados aquilo a que se chama de ‘Modelos C’, que existem na legislação e que teriam de ser adaptados para que quem não tem médico de família pudesse tê-lo fora do SNS, mas em cooperação estreita com o SNS, já haveria médico de família para todos os portugueses. Agora, isto tem um custo. É preciso gastar cerca de 100 milhões de euros nisto. E o Estado está disponível para isto? Aparentemente não.
E é mais fácil resolver este problema da Medicina Geral e Familiar do que propriamente o da Obstetrícia e da Ginecologia, que vai demorar mais tempo. Porque o primeiro é de vontade direta do Governo e é mais rápida; o segundo, que é transversal a todo o SNS, é um problema estrutural, de fundo, que significa olhar para o SNS também de forma diferente. Tornar o SNS mais competitivo implica um grande investimento. Mas é um investimento que rapidamente vai ter frutos. Um estudo recente da Universidade Nova de Lisboa, que saiu agora em 2022 e é referente aos tempos de pandemia, veio dar conta de que o facto dos portugueses terem tido acesso a cuidados de saúde significou, só pelo facto de voltarem a trabalhar e voltarem a contribuir para as economias familiares e do Estado, através dos impostos, a recuperação de mais de sete mil milhões de euros. Ou seja, recuperou-se mais de metade daquilo que é o Orçamento do Estado destinado à saúde. O que significa que a a mesma deve ser olhada como um investimento e não só como um gasto.
Neste momento a sociedade portuguesa tem vindo a deparar-se com um novo surto, associado ao vírus Monkeypox. Considera que as medidas tomadas pelas autoridades de saúde neste âmbito foram atempadas e corretas, nomeadamente ao nível da contenção da sua propagação?
Relativamente ao vírus Monkeypox, evitei até hoje pronunciar-me sobre isso, porque eu acho que Portugal não está a fazer aquilo que devia estar a fazer. Qualquer doença infeciosa devia estar entregue à Saúde Pública e até há pouco tempo eu tive queixas de vários médicos de Saúde Pública do país inteiro, dizendo que os casos não estavam a ser referenciados. Em causa está uma doença que é infeciosa, aparentemente benigna. Mas imagine-se que amanhã se verifica que esta doença pode dar, nalguns casos, uma insuficiência hepática grave e que alguém pode morrer como consequência disso mesmo. Eu depois não sei quem é que teve a doença, se não é feito um rastreamento dos contactos ou não são identificados potenciais contactos. E se eu amanhã quiser ter uma política de prevenção para esta doença ou de vacinação para quem contraiu a mesma, eu sei as pessoas que foram ao hospital e que ficaram ali referenciadas, mas não sei quantas outras pessoas podem ter tido a doença após contactarem com estes casos positivos. Isto era o que eu sabia há duas semanas atrás. Neste momento, não sei especificamente o que as autoridades de saúde estão a fazer. Espero que a DGS já tenha colocado a Saúde Pública a intervir nesta área. Este rastreio, enquanto nós não conhecermos mais coisas sobre a doença, é absolutamente essencial.
E ao nível das políticas de comunicação a que se recorreu desde o surgimento desta doença em concreto? Pergunto isto também devido ao facto de se ter criado um estigma relativamente a este vírus e às pessoas infetadas.
Nós não temos de ter estigmas nesta matéria. Aparentemente, no início, esta doença era identificada apenas em pessoas homossexuais. Independentemente disso, os homossexuais, tais como os heterossexuais, têm todo o direito a serem tratados, portanto aqui não temos que ter qualquer estigma. Temos é de tratar as pessoas todas da mesma maneira, fazer os rastreios da mesma maneira e tentar evitar que a doença se propague da mesma maneira, independentemente da doença afetar heterossexuais ou homossexuais. Na minha perspetiva, essa é a questão menos relevante.
Leia a notícia completa aqui.