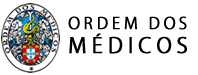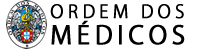Autor: M.M. Camilo Sequeira, Médico aposentado
O trabalhar é um direito. Que implica, em termos civilizacionais, o receber-se com regularidade um salário digno. Sendo este o que permite a subsistência, o ter tempo de lazer e o criar reservas financeiras que suportem a educação e o cuidar da família. Devendo esta sermos nós que nos identificamos pelas relações biológicas mas também todos os outros que partilham o nosso tempo de viver que é, de facto, o que nos deu a oportunidade de existirmos e o que será vivido pelos nossos continuadores no amanhã.
Estes conceitos são bastante simples, básicos até, e parecem estar adequadamente sacralizados para a muito grande maioria de seres humanos pelo que é legítimo interrogarmo-nos sobre o porquê de não serem o padrão da normalidade.
Há milhões de seres humanos que não trabalham porque não há empregos. Há milhões de trabalhadores pagos indignamente porque os candidatos a um lugar disponível são muitos e a concorrência é critério de desvalorização dos salários. (A cupidez e a insensibilidade social dos empregadores mantêm e promovem esta injustiça pelo seu respeito ao que designam como intocável regra primeira do mercado: dizem que o mercado ao promover a competitividade selecciona “naturalmente” os de maior mérito ajudando os muitos “outros” a, pelo bom exemplo destes, melhorarem as suas prestações e assim serem eles os seleccionados na próxima oportunidade). Há milhões de trabalhadores cuja relação com a família é distante e ocasional porque vivem meses, ou anos, deslocados das suas terras escravizando-se um pouco por todo o mundo na busca diária, constante e interminável de algum dinheiro que não conseguem obter fora desse dramático existencial. (E também são a cupidez e a insensibilidade social dos empregadores que os olham apenas como material de trabalho, sem direitos, sem protecção, quantas vezes sem abrigo ou alimentação condignos). E já somos biliões os membros desta família de trabalhadores de ontem, de hoje e de amanhã, que insiste em não perceber que sempre que o nosso vizinho sofre, sofre apenas algum tempo antes de sermos nós a sofrer.
Sendo estranho que apesar de ser tão curto o espaço que separa o tempo que chamamos passado do que chamaremos futuro continuar hoje, no tempo em que tudo se sabe, a ser visto como o era na idade das trevas. Admito por isso que muitos de nós considerem ser menos perturbador do seu quotidiano não o quererem ver.
Mas fazem mal porque não quererem ver o que está à vista implica que, quando chegar a altura da sua vida em que tenham necessidade de ser vistos, ninguém se aperceberá da sua existência. E será nessa ocasião que perceberão ser tarde, demasiado tarde, para corrigirem as consequências da sua cegueira de antanho.
Mas mais ou menos cegos, alguns de nós já sentimos hoje que poderá ser tarde demais para se dar sentido útil ao exercício do trabalhar com a sua redistribuição equitativa entre trabalhadores, de forma cooperativa, interdependente, complementar, competitiva sem agressividade mas, principalmente, de forma que tem de ser diferente da que julgamos ser a normalidade.
Julgo que será a alteração desta normalidade que fará a diferença entre o actual desacerto laboral injusto e o modelo de trabalho justo, ou que julgamos como tal, que será trabalhar no amanhã.
Procurar a mudança
Aquando da comemoração dos 50 anos da Organização Internacional do Trabalho tinha-se a percepção de que a injustiça do desemprego brutal da época e a desigualdade de oportunidades para trabalhar era consequência “directa”, natural, dos diferentes contextos de desenvolvimento económico dos países. Por isso foram estes os temas mais debatidos nessa reunião festiva tendo-se decidido que o objectivo futuro imediato da OIT era corrigir esta agressão social. A humanidade iria mostrar-se humana através da ajuda que os países ricos se comprometiam a dar aos pobres formando técnicos, ajudando-os a melhorarem as suas explorações agrícolas e criando novos tipos de trabalho em indústrias e actividades comerciais.
Um bom propósito sem dúvida. Mas logo no seu ideário parece existir uma irritante areiazinha como contaminador do objectivo consensual: “claro que a principal responsabilidade do projecto cabe aos países pobres. O apoio dos países ricos dependerá dos seus interesses multilaterais e políticas de comércio e investimento…”
Ou seja, a caritativa iniciativa seria uma oferta dos países culturalmente orientados para o enriquecimento extractivo sem modificar os seus interesses dada aos países que foram, eram e são objecto dessa política de extracção. Serei só eu a achar que esta areiazita tem pouco de filantrópico?
Mas foi o que entusiasticamente se aprovou. E passados mais 50 anos muitos dirão que há mais orientais, mais latino-americanos e mais (poucos) africanos que têm formação universitária, que trabalham em grandes empresas globalizadas e que vivem como os ocidentais privilegiados vivem do que na altura daquele cinquentenário. E até dirão que a população que vivia com menos de um dólar por dia teve um ganho financeiro absolutamente excepcional pois muitos dos seus descendentes vivem com cinco dólares por dia. 500% de lucro em meio século é uma alteração que não se deve desvalorizar. (Não desvalorizemos então. Mas julgo que seria exercício útil saber o que se comprava com um dólar em 1969 e o que se compra com cinco dólares em 2019). Eu acho pouco mas não quero complicar. Aceito mesmo que me censurem por nunca mostrar satisfação com as conquistas civilizacionais que, mesmo quando são pequenas, não deixam de ser conquistas.
Mas os próprios admiradores desta mudança referem factos que refreiam a sua admiração. Porque se há naturais dos países pobres que ganharam formação e competências para se afirmarem no mundo exigente dos mercados, como era propósito dos membros da OIT, essa qualificação poucas vezes teve efeitos nos seus países de origem e foi aborrecidamente acompanhada por uma grande acentuação do fosso entre ricos e pobres locais. Felizmente para estes admiradores podem sempre afirmar que isso não resulta do fracasso dos planos de ajuda mas antes da enormíssima capacidade dos pobres em produzir descendência o que inviabiliza de forma absoluta e relativa qualquer programa de formação e empregabilidade para um número de potenciais trabalhadores sempre em crescimento. Têm razão.
Ou não têm?
A formação, parece indiscutível, permitiu criar um núcleo relevante de privilegiados que fugiram do destino de miséria a que estavam destinados. Mas os beneficiários deste novo grupo de criadores de bem-estar foram principalmente, quando não exclusivamente, os países extractores que, com a “ajuda oferecida”, ganharam novos produtores de bens cujo lucro lhes pertence. E é bom salientar que uma boa parte deste lucro é o pagamento dessa ajuda feito com o trabalho dos pobres não privilegiados desses países. Não nos iludamos. Os impérios que se criaram na extracção só sabem crescer extraindo. E se o seu interesse não for salvaguardado (como ficou registado ser a condição do seu apoio no plano de 1969) pura e simplesmente o que dão é nada.
Claro que há sobrepopulação. E há quem não queira adaptar-se ao modelo de crescimento económico do ocidente rico. E é verdade que a desigualdade sempre existiu e que o propósito de a destruir parece ser uma utopia. Mas também é verdade que o desemprego ou o emprego a fingir são um padrão do nosso tempo, que estão a crescer e a progredir fora dos países pobres, que a mobilização das populações escorraçadas pelas guerras, pelas alterações climáticas, pela fome e decerto pelo ódio a quem tem é fenómeno imparável.
E para mim é perfeitamente claro que apenas o trabalhar com salário justo poderá funcionar como regularizador-estabilizador destes desequilíbrios sociais que continuamos a considerar defensáveis por sermos incapazes de perceber que é de nós próprios que falamos quando dizemos “os desempregados”, “os pobres”, “os que não se adaptam”, “os que não querem trabalhar”, “os deslocados” ou “os inadaptados ao progresso”.
(Sim, estou a afirmar que é de si que fala quando assim fala, você mesmo que me está a ler.)
Por isso temos de mudar. Mas temos de mudar para diferente. Não basta mudar o nome do problema, alterar as funções de um ou outro protagonista, reprimir os mais activistas e lançar as culpas do caos sobre “o outro” nunca identificável porque, de facto, sabemos que esse outro somos nós.
Teletrabalho
É no dramático de uma pandemia que se revela a uns e se confirma a outros que se pretende ter-se descoberto a maravilha que vai resolver o problema da empregabilidade sendo em pleno 2021 que nasce ou se torna visível “a tal” mudança de que necessitamos: o teletrabalho.
É singular que tivéssemos o ovo de Colombo aqui tão perto e não o conseguíssemos ver. Sabemos agora que não foi o consenso da OIT de 1969 que encontrou a solução do grave problema já bem identificado nesses anos. Essa solução é a fantasia que estamos hoje a promover sobre o poder miraculoso deste novo, mas já testado, modelo de trabalhar. O agora sacralizado teletrabalho faz renascer a esperança num mundo sem desemprego e com menor desigualdade.
Porquê esta esperança? Porque a esperança é necessária e as soluções eficazes seriam uma mudança excessiva por alterarem a ordem normal das “coisas”, mormente as regras intocáveis impostas pelo mercado, com potenciais consequências tão diabolicamente graves que nem as imaginamos. Por isso o correcto é modificar um pouco a posição das moscas. Depois, num tempo preferencialmente de outros decisores, se verá se teremos de mudar mais do que isso.
O teletrabalho é, no essencial, uma competência que permite preparar a consciência colectiva para o mundo digital que antecede a robotização. E fá-lo pelo lado dos trabalhadores que aprenderão a desvalorizar o contacto pessoal e a considerar este novo tipo de “relacionamento” como normal e adequado. Aprenderão também a responder (ou não responder) pelo chavão 3 a cada preocupação dos utilizadores do seu serviço. E para estes utilizadores-utentes será o treino para aceitarem como bom este progresso tecnológico que lhes permite aceder aos serviços 24 horas por dia. Também aprenderão a aceitar que as suas dúvidas não têm sentido para os serviços “porque não lhas sabem propor” e que a impossibilidade em satisfazerem obrigações que têm como deveres resulta da sua inabilidade para usar o intuitivo dos sistemas digitais. Para o sucesso desta maravilhosa invenção ensina-se nas acções de formação que a relação pessoalizada, tão nossa identidade, é um valor negativo por estar associada ao favoritismo, à pequena corrupção, ao “jeito insignificante” que qualquer um pode fazer, à troca de interesses, de favores, enfim, à cumplicidade entre partes que agravará as já tão desiguais capacidades de acesso a quaisquer serviços. Não se vendo nela a nobilíssima função de ajuda à comunicação difícil, ao apoio para se vencer o críptico da linguagem especializada ou a pura e simples expressão de humanidade nas relações nem sempre lineares de tantas das nossas actividades quotidianas. Por isso é correcto bani-la e comunicar telepaticamente através de uma máquina.
No entanto o teletrabalho é, diga-se dele o que se disser, um exercício mecânico onde o animal social, gregário, que nós somos não tem espaço funcional, onde nem sequer cabe o sorriso, expressão de afecto específico do animal que somos, que tantas vezes completa e dá sentido às palavras que não conseguimos encontrar. Assim ajudando à resolução de problemas e à construção de um mundo vivido de par com os outros. Ou seja, humanizando as relações como ponte, de olhos nos olhos e não como obstáculo como o faz o teletrabalho.
E sim é verdade que o teletrabalho impede demoradas deslocações de trabalhadores da residência para o local de trabalho com grande redução das emissões de carbono e protecção do ambiente. Mas viver é andar de mão estendida para quem dela precisa. E todas as actividades económicas dependentes destes trabalhadores que agora estão em casa, os restaurantes que vivem de servir almoços, as cafetarias, papelarias, cabeleireiros, lojas de prendas ou de pequenos arranjos, enfim, todo o comércio de subsistência que dá vida às ruas e protege os núcleos urbanos da desertificação e da violência que esta cria, todos estes milhares de cidadãos ficam condenados à miséria, à fome, à falta de alternativas ao mundo que sempre foi o seu. Em termos de protecção do ambiente que alguém faça a escolha acertada. E também em termos de defesa da biodiversidade, problema de igual ou maior importância que as alterações climáticas, porque as nossas diferenças individuais também podem ser consideradas como expressão, alargada, de biodiversidade.
Melhorar o mundo é torná-lo melhor para quem nele vive.
Melhorar o mundo acabando com a vida será muito duvidosa melhoria como é duvidoso progresso a construção de um modelo de comunicação assente na perda de contactos pessoalizados, na anulação dos hábitos de partilha e entreajuda, na restritíssima visão da vida colectiva que trabalhar e viver sempre no mesmo local implicará. O teletrabalho é mau porque impede que vejamos o dia a dia do outro, porque nos dá como reflexo da vida a notícia não sufragada, porque nos “enquista” intelectualmente e, decerto, porque nos anula competências relacionais que ganhámos com a diferença e a adaptação às suas múltiplas expressões ao longo de milhares de anos. Admito que esta capacidade possa vir a dar razão aos que defendem que nos adaptaremos ao trabalho telemétrico e depois ao mundo robótico “porque sempre foi assim”. Parece-me argumento pobre pois julgo não serem defensáveis alternativas ao trabalhar presencial que nem criam mais emprego nem acrescentam valor ao benefício formativo que resulta do relacionamento entre diferentes seres humanos, com diferentes modelos de ser-se humano, com diferentes de nós. E, contudo, sendo todos espantosamente iguais.
(Nota à margem: quando diabolizo o agora sacralizado teletrabalho não estou a pretender negar o seu potencial de utilidade como serviço complementar, marginal, de apoio a quem trabalha presencialmente. O que nego é a sua qualificação como alternativa à redução da empregabilidade em geral e como solução de um problema antigo que se está a agravar e que exige uma revolução mental, cultural, da consciência colectiva para ser efectivamente resolvido).
Mudar é possível
Mas revolucionar como?
A todos cabe participar nesta discussão. Eu proponho-me ter opinião: parece-me óbvio e estou nisso bem acompanhado porque há muitas, diversas e autorizadas vozes a afirmá-lo, que a distribuição de riqueza quando concentrada em poucos que a não fizeram é socialmente injusta, irracional, geradora de sofrimento e conflitualidade. Pelo que o regime de redistribuição tem de ser mudado criando-se impostos progressivos sobre rendimentos, produtos de investimento em mercados de valores de qualquer tipo, bens abrangidos pela sucessão. E estes impostos devem crescer sempre podendo alcançar 90 ou 95% desses lucros desde que tenham como destino a criação de valor para a sociedade como um todo. Sei que estou a questionar outro sagrado da desigualdade que é a propriedade. Faço-o em plena consciência porque a revolução de que necessitamos obriga a fazê-lo. A propriedade, ou por erro humano ou por defeito próprio, tem sido sempre um gerador de desigualdade e um poderoso sustentáculo da mesma. Por isso tem de ser eliminada como valor sacrossanto e tem de ser repensada em termos que permitam a sua integração na vida colectiva como valor social: ou pela sua continuada redistribuição, ou por alteração das leis de direitos sucessórios ou por penalização “pesada” do seu ganho irregular ou ilegal ou por outro qualquer modelo que a dessacralize e anule a sua intocabilidade. Dito de outra forma: possuir não tem que ser crime. Mas é crime o possuir através da obstrução ao direito de ser do outro.
Só esta mudança já seria uma grande revolução. E ouço bem o ruído dos que perguntam quem seriam os revolucionários e dos que, se calhar os mesmos, a consideram um ataque ao direito ao lucro de quem investe e cria trabalho e bens socialmente úteis. E noto que afirmam que se assim se proceder os investidores deixarão de investir e o empreendedorismo deixará de ter sentido. Não têm razão. Os revolucionários, em democracia, têm de ser os órgãos eleitos por nós a quem temos de exigir programas políticos onde esse normativo revolucionário seja base de todos os seus projectos. E quanto aos investidores se não forem os de hoje serão outros porque o interesse no lucro não desaparecerá e o entusiasmo empreendedor não existe apenas nos actuais acumuladores de dinheiro e poder. Há outros que esperam a sua oportunidade sabendo, desde o seu início, que para terem muito têm de distribuir muito, que o seu mérito será criarem riqueza para si com um preço inovador: parte dela tem de ser redistribuída. Serão empreendedores com nova mentalidade social mas tão empreendedores como quaisquer outros.
Mas há mais: o trabalhar de hoje tem 7 dias potencialmente úteis e 5 que o são sempre. Quem procura emprego quer o que lhe for melhor se isso estiver ao seu alcance, sendo a desigualdade um dos condicionantes desse alcance, ou o possível se esta for a única alternativa ao desemprego. E bem sabemos que o “preço” do trabalho depende do número dos que o procuram. Como este valor é uma regra que mesmo com grandes revoluções culturais será difícil de modificar temos de procurar uma forma de o minimizar. Proponho que se trabalhe “com o mesmo salário, ou seja, sem reduções em relação aos preços actuais” não 5 ou 7 dias por semana mas antes apenas 2 dias com adaptação permanente desse salário ao custo de vida para se evitar que, por esquecimento desta regulação, se mantenha um dos promotores da desigualdade. Desta forma simples duplicava-se o número de empregos, afirmava-se a relevância social da empregabilidade e ensaiava-se um modelo de relação empregador-empregado que, com a robotização que muitos têm como futuro inevitável, poderá ser o do amanhã desconhecido. Mas nesta fase intermédia o trabalhar passaria a ter dois grupos de funcionários ou operários cumprindo cada um deles a sua função durante 2 dias em complementaridade com o outro nos 2 dias seguintes. Os 3 restantes seriam ou para manutenção das estruturas do emprego ou para repouso colectivo. Os lucros seriam os mesmos ou maiores por haver maior disponibilidade para consumir. Só a sua distribuição é que seria diferente pois passariam parcialmente a auxiliar o trabalhador consumidor a consumir e a ajudar o gestor da “coisa pública” a criar vantagens sociais de forma generalizada.
E provavelmente seria possível que estes bens generalizados, saúde, educação, habitação, lazer, apoio na senescência, estivessem acessíveis a todos independentemente do valor relativo da sua riqueza. E como a desigualdade não se anulará totalmente continuaria a ser possível que, embora tendo acesso a bens básicos de boa qualidade, os que assim desejassem poderiam ter outros não básicos onde se poderiam mostrar mais homens que os outros embora com o sistema de regulação a impedi-los de serem homens contra os outros. A desigualdade existiria sim mas o poder não resultaria nem promoveria essa desigualdade.
E para quem tem como obrigação defender os interesses dos trabalhadores contra o poder cada vez mais sem rosto dos agentes do mercado também é necessária uma revolução. Os Sindicatos claro que continuarão a defender salários adequados à relevância de quem cria valor pelo trabalho. Mas com a progressiva redução dos postos de trabalho, com a modificação dos modelos de prestação deste e com a tecnicização a crescer e a ser suporte, mais ou menos consciente, para se desvalorizar a capacidade imaginativa do trabalhador é vital reformular metodologias, objectivos, modelos de argumentação, elaborar novos conceitos para defender o direito ao trabalhar “mesmo que o trabalhador passe a ser visto como dispensável pelos patrões”. As empresas sabem que é o trabalhador quem produz a sua riqueza e sabem que se o não protegerem minimamente podem perder-se no caos que uma revolta dos sem-pão implicaria. E sabem que por maior que seja a sua confiança na repressão esta tem custos imprevisíveis em termos de poder e propriedade. Mas a dificuldade em partilhar ou um eventual erro de avaliação sobre a eficácia da repressão pode distorcer-lhes a realidade e levá-los a acreditar que podem desvalorizar o papel de quem faz a empresa e lhes dá o poder. Quando isso acontecer os Sindicatos têm de ter uma resposta imediata adequada e distante da previsibilidade actual. É necessário prepará-la porque o amanhã está muito perto.
Futuro
Os problemas actuais que associamos à potencial perda da forma de vida que criámos e julgamos ser a melhor possível são a destruição da biodiversidade do planeta, a mudança do clima que está a ocorrer a uma velocidade superior à que a ciência previu e são as relações laborais e o valor do trabalho que se degradam pelo que ainda afirmamos ser o progresso. Sendo comum a todos eles a intervenção da mão humana o que não me parece que se trate de motivo de orgulho.
Mas se foi possível fazer estes males e se é possível falar deles e perceber a sua gravidade então parece-me ter sentido afirmar que mudar é preciso, que mudar é possível e que mudar é o único caminho que permitirá aos nossos descendentes viverem uma vida, diferente mas igualmente boa, à que nós tivemos o enormíssimo privilégio de viver.
Para isso é vital mudar algumas regras do nosso viver. Mudar para que este modo de vida, apesar de tudo feliz, não só perdure mas perdure bem…