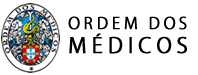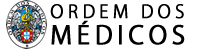Autor: Walter Osswald, Prof. Catedrático aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Atravessa os tempos o debate acerca da eutanásia, da morte misericordiosa, da ajuda ao suicídio. As diversas classes e sociedades médicas mantiveram-se, durante séculos, na clara rejeição de qualquer abrandamento da posição que encontrou a sua definição clássica no chamado Juramento hipocrático, sempre de novo retomado em códigos e declarações posteriores, segundo a qual ao médico compete sempre respeitar a vida do seu doente, fundamento e justificação de todos os seus direitos.
Todavia, a partir do século transacto houve mudanças profundas, a nível da sociedade e da governação, que provocaram algumas fendas na monolítica oposição médica à eutanásia. Em primeiro lugar, a tese da qualidade de vida como critério para a sua manutenção levou à conclusão, lógica, de que a ausência ou a redução dessa qualidade justificariam a supressão da “vida indigna de ser vivida” de que falavam os afamados professores Binding e Hoche em obra que conheceu enorme sucesso e foi, abusivamente embora, explorada pela ideologia nazi como justificação para o seu programa de eliminação de epilepticos, dementes, oligofrénicos e demais “vidas indignas de ser vividas”.
Por outro lado, a legislação permissiva que os países do Benelux (Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo) vieram a adoptar resultou num número considerável de mortes por eutanásia nos últimos anos, calculando-se (as estatísticas disponíveis não são completas nem rigorosas) em cerca de 10.000 os casos de “eutanásia” ocorridos anualmente na Benelux (grafamos eutanásia entre comas, pois, como adiante se verá, muitas dessas mortes constituem homicídios, por não cumprirem os critérios clássicos definidores da eutanásia). Ora, como estas mortes são quase exclusivamente induzidas por médicos (não havendo estatísticas sobre objecção de consciência), forçoso é concluir que há um sector considerável de médicos desses países que não rejeita a prática da eutanásia.
Entre nós, a recente proposta política de legislação autorizando a prática da eutanásia causou um vivo debate a que se não têm eximido personalidades bem conhecidas no meio médico e na sociedade em geral. Como não podia deixar de ser, registou-se igualmente a intervenção de responsáveis da nossa Ordem, merecendo particular atenção, como é curial, as posições assumidas pelos Bastonários (os anteriores e o actual), que claramente se distanciaram de tal proposta de legislação. Em face deste necessário e salutar debate não parece excessivo deixar nestas páginas o modesto contributo de quem há anos segue e analisa a evolução histórica; ([1]) é o que se pretende concretizar nas linhas que se seguem.
Antes de mais é necessário definir com clareza o que é a eutanásia, a fim de evitar uma confusão conceptual que torna ineficaz o diálogo; recordo aqui o que se passou com dois distintos médicos que declararam ter praticado eutanásia nos respectivos pais, quando o que relataram apenas traduzia o seu impecável procedimento médico e humano, ao porem cobro a situações de obstinação terapêutica (de resto interditas pelo nosso Código Deontológico) e ao permitirem a morte natural, serena e digna, dos seus progenitores. De facto, eutanásia é outra atitude, inteiramente diferente: é a provocação da morte de uma pessoa, a pedido dessa mesma pessoa. Só isso interessa discutir, pois essa é a questão que se encontra em cima da mesa parlamentar.
Análise da argumentação pro-eutanásia
Esta argumentação baseia-se em dois pilares dificilmente compagináveis: a autonomia e a libertação do sofrimento. A autonomia pessoal é um dado assente e generalizadamente aceite, tendo-se gradualmente transformada num princípio ético fundamental. Ninguém duvida, hoje, de que as pessoas adultas e psiquicamente sãs têm o direito (e até o dever) de intervir activamente nas escolhas e de tomar decisões em tudo o que lhes diga respeito. Em ética médica tal reconhecimento traduz-se na capacidade do doente em aceitar ou rejeitar as propostas de intervenção diagnóstica ou terapêutica que lhes sejam apresentadas, capacidade essa consagrada na prática da lei (embora longe de ser universalmente respeitada) e tendo como consequência, que a lógica exige, o consentimento informado, magistralmente definido já na Declaração de Nuremberg (1947).
Mas é impossível não divisar dificuldades (intransponíveis, cremos) na extensão deste conceito central da autonomia à livre disposição da própria vida; nem existe, na eutanásia, qualquer consentimento informado, pois o pedido parte do paciente e a solução letal não lhe é proposta. Vejamos:
O modelo ético principalista (que é apenas um dentre outros, embora provavelmente seja o mais difundido), responsável pela valorização da autonomia como inegociável garante da liberdade humana, expressamente coloca, outros princípios prima facie, ou seja no mesmo plano de dignidade e valia axiológica, tais como a beneficência, a não maleficência e a justiça, prescrevendo ainda que estes princípios não podem entrar em conflito entre si (o que implicaria que se aceitasse a bondade da eliminação de uma vida e o bem que daí resultaria para o ser eliminado). Ora, a sobre-extensão da autonomia e a sua valorização excessiva e isolada introduzem necessariamente ruído e choque entre os princípios. De resto, a autonomia, tomada como argumento chave para fundamentação da eutanásia, destrói-se, paradoxalmente, a si mesma, pois não poderá ser exercida por quem foi morto em nome dessa mesma autonomia.
Quando se cai no logro de arvorar a autonomia como agente de todas as escolhas e decisões está-se a laborar, como diz J.A. Seoane ([2]) no autonomismo, ou seja no erro de a tomar como valor único e absoluto, tendo como premissa que uma decisão autónoma é sempre correcta e moralmente boa, não cabendo a outros opinar sobre as escolhas individuais nem sobre as suas consequências.
Ora, não basta que a decisão tenha sido autónoma, pois ela poderá sempre ser considerada pelos outros como boa ou má, legitima ou ilegítima, útil ou inútil, justificável ou não. A autonomia não é auto-determinação e não pode desconhecer os vínculos conferidos pelos nossos pressupostos biográficos e que influenciam, limitam ou orientam as nossas escolhas e decisões. A autonomia só pode ser garantida no ambiente social apropriado e com o apoio activo de outras pessoas e instituições. Por isso, conclui o filósofo do direito, Seoane, não pode deixar de ser entendida como um conceito relacional, contingente e graduável.
Também a fina análise filosófica a que procede Michel Renaud ([3]) converge na mesma conclusão: não há fundamento racional para a aceitação do conceito de uma autonomia pessoal ilimitada e desprovida de responsabilidades perante terceiros.
Do ponto de vista de uma antropologia filosófica, tem ainda o maior interesse o polémico debate travado entre os reputados professores John Harris e John Finnis, transcritos no clássico livro de que é coordenador (e autor) John Keown ([4]). De resto, esta ilação da análise filosófica vem ao encontro do entendimento generalizado de que uma autonomia individual em estado puro, ou seja, isenta e imune a influências, preconceitos, pressões, exercícios de autoridade, capaz em todas as circunstâncias de equilíbrio e ponderação, não afectada por paixões ou convicções – que essa autonomia simplesmente não existe. Mais relevante ainda é o facto de na situação em debate nos estarmos a deparar com doentes em estado terminal, conscientes, muitas vezes em sofrimento físico e moral, ou seja pessoas conhecedoras do seu fim próximo e angustiadas; nessas circunstâncias não é honesto esperar o exercício de uma autonomia asséptica, amena e ponderadamente exercida, não influenciada pelo ambiente, pelos próximos e pelos cuidadores.
Existe ainda, na argumentação pro – eutanásia baseada na autonomia, uma grave e a meu ver nunca ultrapassada contradição interna que invalida o raciocínio. Sendo a autonomia um valor absoluto, como se justifica a sua aplicação apenas a doentes terminais e em sofrimento? Na senda do raciocínio baseado na autonomia não será possível negar a qualquer adulto consciente, são ou doente, um pedido de eutanásia, uma vez que é nestas circunstâncias que existe maior liberdade e menor risco de influências externas ou de coacção.
Outro e não despiciendo paradoxo é o que respeita à prática da eutanásia, que a legislação proposta reservaria para o médico, disposição essa que suscita indignada rejeição por parte da maioria dos médicos, diga-se de passagem. Mas o que aqui desejo frizar é que a argumentação a favor da eutanásia, pretendendo alegadamente dar poder ao doente e libertá-lo do paternalismo médico resulta exactamente no oposto: é um médico (ou dois) quem verifica se estão satisfeitas as condições para o candidato ter acesso à sua liquidação física. Ele (o médico) tem o poder de decidir e só ele poderá autorizar a acção ou omissão que se revelará letal.
Trata-se de uma incongruência pelo menos bizarra!
A outra justificação aduzida para a defesa da eutanásia consiste no sofrimento insuportável a que o doente poderá estar sujeito, numa fase terminal, p. ex. de cancro. Talvez em tempos pudesse ter alguma validade esta asserção; hoje em dia podemos recorrer a um arsenal terapêutico, farmacológico, psicológico, cirúrgico que nos garante um controlo da dor e do sofrimento físico que exclui as situações extremas. Por isso, esta linha de argumentação é cada vez menos invocada pelos proponentes da eutanásia, que têm de reconhecer que a prestação de correctos cuidados paliativos evita totalmente situações daquele tipo.
Suicídio “assistido”
Sob esta designação incorrecta (existe, sim, ajuda na medida em que alguém, na proposta legislativa um médico, fornece instruções e medicamentos em doses letais, mas não assiste ao desenlace) tem-se advogado uma intervenção causadora de morte, mas praticada pelo próprio. Do ponto de vista legal e ético, não existe diferença substancial entre eutanásia e ajuda ao suicídio. Já quanto à atitude de quem fornece meios letais mas se escusa a ministra-los pessoalmente, poderá suscitar particulares censuras, por ser classificada como hipócrita ou cobarde. De qualquer modo, não se deve dar tratamento independente a esta questão, embora pudesse ser frutuosa a análise das causas de se tratar de medida a que muito raramente se recorre nos estados americanos (EUA) em que é legal; e representar apenas uma fracção menor nas estatísticas dos três países (Benelux) em que eutanásia e ajuda ao suicídio se encontram legalizadas.
Consequências da legalização da eutanásia
Ao anunciar as consequências previsíveis de uma eventual legalização da eutanásia não podemos deixar de recorrer à experiência vivida nos três países que há mais de uma década legalizaram essa prática. Neste aspecto, dispomos de larga evidência, baseada em estatísticas oficiais, trabalhos científicos publicados nas melhores revistas, livros, declarações públicas de governantes, reportagens, etc. Podemos resumir o que se passa do seguinte modo:
- O número de mortes por eutanásia e como tal declaradas anda à volta dos 10000 por ano, o que corresponde a cerca de 5 a 7% de todos os óbitos. Este número tende a aumentar mas não sofreu um incremento marcado nos últimos anos.
- Existe um número indeterminado, mas consensualmente considerado como apreciável, de mortes devido a eutanásia mas não declaradas como tal, isto é, atribuídas a causas naturais. As estimativas oscilam entre 1000 a 3000 óbitos deste tipo.
- O motivo para o pedido de eutanásia raramente se baseia em dor persistente e resistente ao tratamento. O que se invoca é o receio de ficar dependente de cuidados básicos (higiene, alimentação, mobilidade), de perder qualidade de vida ou capacidade intelectual, de vir a sobrecarregar emocional e financeiramente o membro da família que desempenha a função de cuidador informal. Mais raramente, mas com frequência crescente, assinalam-se motivações mais difíceis de analisar, tais como cansaço de viver, ter idade avançada e estar bem de saúde (!) mas temer o futuro, não ser um elemento produtivo da sociedade, etc.
- Embora a lei vigente só autorize a morte a pedido, ou seja eutanásia voluntária, vai-se tornando mais frequente a eutanásia involuntária, ou seja sem pedido expresso. Assim, há casos em que doentes dementes ou incapazes são eutanasiados, invocando-se um pedido prévio, oralmente feito a familiares ou conhecidos ou as suas convicções filosóficas; em outras situações, são os pais ou tutores a solicitar eutanásia para os menores deficientes ou com doença crónica incapacitante. Estas situações configuram, à face da lei, o crime de homicídio, mas as autoridades não as investigam.
Note-se que estamos aqui em presença de um exemplo clássico do fenómeno designado, em Bioética, por rampa escorregadia (slippery slope), ou seja pelo deslize de uma situação de alcance limitado, com condições restritas e dotada de meios de controlo para um uso muito mais vasto, sem restrições e não controlado. Era previsível, já que o excepcional tende a tornar-se normal e o restrito a de utilização comum; neste caso, como o faz notar Keown ([5]), a rampa deslizante concretiza-se nas suas duas constituintes, a lógica e a empírica. De facto, se ao médico cabe a decisão de verificar se estão ou não presentes as condições para o acesso à eutanásia (estado terminal, sofrimento, etc) então é razoável admitir que ele seja igualmente competente para, em face dessas condições em doente que não tenha feito o respectivo pedido, poder decidir praticar a eutanásia. Essa é a componente lógica para o alargamento da eutanásia; a componente empírica na aceitação, tácita ou resignada, de que não é possível, em todos os casos, averiguar se foram ou não respeitadas as condições legais, pelo que se aceitam como boas as declarações dos intervenientes (sim, o paciente pediu várias vezes que o matassem, não, não há documento escrito mas há testemunhas credíveis, muito bem, está em ordem). De resto, não existem meios humanos e materiais para exercício de um controlo da prática da eutanásia.
E entre nós?
A proposta de legalização da eutanásia, amparada numa petição com cerca de 8000 assinaturas (a que se contrapõe outra petição de sentido oposto, com 14.000 assinaturas), não tem tido apoio significativo por parte de associações de doentes nem da sociedade em geral. Se porventura se tornasse lei, as consequências previsíveis não deveriam ser apreciavelmente diversas das que acima apontamos e se verificaram nos países da Benelux. Os pedidos autênticos de eutanásia seriam provavelmente muito raros (os oncologistas e intensivistas nacionais afirmam serem absolutamente excepcionais tais solicitações, mesmo quando a população de doentes a seu cargo se caracteriza por elevada mortalidade a curto prazo) mas tenderiam a aumentar, com o decurso do tempo, por progressiva erosão da percepção negativa da eutanásia (o que é legal não pode ser mau, o estado não quer matar pessoas e sim dar-lhes liberdade de decidirem o seu futuro, etc). Mais graves ainda seriam
- a) a extensão da morte provocada a menores deficientes ou mal-formados, a pessoas longe do estado terminal queixando-se de sofrimento intolerável não objectivável a doentes comatosos, em estado vegetativo, dementes ou com doença neurodegenerativa inicial, resvalando-se assim da eutanásia para o homicídio tolerado pela lei;
- b) a divisão da classe médica entre objectores e não objectores de consciência, depreciação crítica dos militantes do campo oposto e risco de grave perda de confiança dos doentes (este médico é dos que tratam ou dos que matam, interrogam-se muitos doentes na Benelux);
- c) supressão por coerência com a legalização da ajuda ao suicídio, da luta contra este acto, considerado como lesivo da saúde pública, suprimindo-se as campanhas nacionais contra o suicídio, de que as autoridades sanitárias tanto se orgulham;
- d) a necessária revisão e substancial alteração do Código penal e da própria Constituição da República Portuguesa que estatui, tal como as congéneres dos países mais civilizados, que a vida humana é inviolável;
- e) a generalizada e difusa depreciação da vida humana, já não um valor absoluto mas apenas um valor relativo a contextualizar caso a caso, em função da sua “qualidade”, definida por outros.
A intervenção médica
Não bastará, ao médico que baseado na tradição milenar de que se orgulha, no ensinamento dos mestres que o formaram, na sua consciência de servidor da vida e dos vivos, rejeita a eutanásia, ficar pela declaração de objector (curiosamente, um Colega ilustre que assinou o documento enviado à Assembleia a solicitar a legislação sobre eutanásia declarou publicamente a sua posição ser favorável, mas que ele jamais praticaria a eutanásia). Deve ser fiel à sua missão de defender, preservar e melhorar a vida dos seus pacientes mas não pode ser indiferente às condições de sobrevida ou dos últimos tempos de vida de tantos doentes, insuficientemente ou excessivamente medicados, sem acesso a cuidados paliativos de qualidade, sofrendo dores que um tratamento adequado controlaria, ou morrendo em solidão, sem apoio familiar, social, psicológico ou religioso. Não basta, pois, dizer não à eutanásia, impondo-se que os médicos contribuam para que a boa morte esteja garantida para todos: com reforço dos cuidados paliativos e melhoria do acesso, com actualização dos conhecimentos na área do controlo da dor, com diálogo verdadeiro, respeitoso e compassivo com quem se enfrenta com a proximidade da morte, com rejeição de toda a obstinação terapêutica, na escuta empática e acção esclarecida junto do doente ansioso, receoso do fim, incapaz de defrontar o desconhecido.
Se tal acontecer, se formos capazes de melhorar as condições em que se morre em Portugal, então todo este debate terá sido profícuo e fecundo, e todos nos poderemos felicitar por nele termos participado. Esta seria a faceta positiva de uma questão velha de séculos e nunca dirimida. Basta consultar dois livros multi-autorais de grande qualidade, que incluem depoimentos de paladinos da legalização e dos respectivos opositores.
Um, de origem britânica e a que já fizemos referência ([4]) data do já longínquo ano de 1995; o outro, da autoria de personalidades nacionais e estrangeiras, tem o sóbrio e ambicioso título do “A condição humana”([6]), incluindo importantes contributos sobre a eutanásia, apresentados em ciclo de conferências levado a cabo em 2000 sob os auspícios da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.
É interessante verificar que as teses e os pontos de vista, os argumentos e as respectivas críticas não diferem significativamente dos que agora são apresentados à opinião pública – a favor ou contra. Nem sequer difere a abordagem do problema, numa dupla vertente: exaltação ou relativização da autonomia e focagem electiva das consequências, previsíveis ou hipotéticas, da adopção de uma legislação permissiva. Ou seja, aborda-se a questão à luz de uma ética principalista, para simultaneamente se invocar uma via consequencialista de avaliação. Do ponto de vista metodológico não é aconselhável esta atitude híbrida que nos esforçamos por evitar neste texto, tratando separadamente dois aspectos.
Regressemos ao ciclo de conferências acima referido. Há nele uma notável meditação de Fernando Gil acerca da “Morte certa, hora incerta”. Afirma o filósofo que existe “… o heroísmo absoluto de enfrentar a morte que se sabe estar a rondar… fazer face, ser paciente face à morte é o oposto do controlo ilusório, do poder de uma acção sempre eficaz, que são ainda exorcismos da morte. O juridismo ambiente é um seu corolário e um seu efeito perverso”. É no mesmo sentido, cremos, que outro grande desaparecido, João Lobo Antunes, defende, no seu texto, ser cada vez mais importante treinar a incerteza e aceitar as suas implicações éticas e filosóficas.
A eutanásia pretende negar a incerteza da morte, antecipando-a e retirando à pessoa a possibilidade de a experienciar. Exerce um controlo ilusório da incerteza, apoiando-se num juridismo perverso. Não o conseguirá nunca, na sua pueril e vã rejeição da hora incerta.
Em conclusão
Por tudo o que fica exposto e que poderia ser bem mais pormenorizadamente tratado, chegamos à conclusão principal de que a lei que descriminalizasse ou legalizasse a eutanásia e a ajuda ao suicídio (duas técnicas de matar pessoas que não devem ser distinguidas, do ponto de vista ético)
- não corresponde a uma realidade social e a um anseio da população;
- não encontra fundamentação lógica no princípio da autonomia, que invoca de forma incorrecta e hiperbólica;
- está ferida de contradições internas insanáveis, que a descredibilizam
- teria consequências gravosas para o indivíduo e a sociedade.
([1]) Osswald. W. – Da vida à morte. Horizontes da Bioética. Lisboa, 2014 (pp 203-208 e respectiva bibliografia); Osswald, W. – Sobre a morte e o morrer. Fundação Francisco Manuel dos Santos, Lisboa, 2013; Osswald, W. – Morte a pedido. Universidade Católica Editora, Lisboa, 2016
([2]) Seoane, J.A. – La relación clínica en el siglo XXI: cuestiones médicas, éticas y jurídicas. Derecho y salud 16:1-28, 2008; Seoane, J.A. – La construción jurídica de la autonomia del paciente. Eidon 39: 13-34, 2013
([3]) Renaud, M. – Acerca da eutanásia e da dignidade humana. Brotéria, Julho de 2017
([4]) Keown, J. (coord). Euthanasia examined. Cambridge University Press, Cambridge 1995
([5]) Keown, J. – l.c., pp 297-314
([6]) F.Gil, M.S. Marques (coords.) – A condição humana. Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Lisboa 200(?)