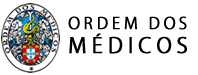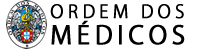Neste dia 4 de fevereiro de 2022 – Dia Mundial da Luta Contra o Cancro – entrevistámos Vítor Rodrigues, ex-presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) que cessou funções no final de 2021, mantendo-se ligado à organização na liderança do núcleo da região Centro. Vítor Rodrigues é licenciado em Medicina e Doutorado em Saúde Pública e tem mantido atividades na LPCC desde 1975, sobretudo na área da educação para a saúde e do rastreio do cancro da mama.
Foi com base na sua experiência que nos contou que o impacto da pandemia nos rastreios oncológicos em Portugal “foi grande”, deixando claro que, para recuperar, “não basta fazer a mesma coisa do que em 2019, nós temos que fazer a mesma coisa de 2019 e recuperar o que ficou em 2020 e 2021”. Vítor Rodrigues sublinha que o SNS necessita de uma modernização para dar uma melhor resposta aos doentes que o procuram, mas está confiante de que ainda será possível apanhar muitos dos casos de cancro que fugiram ao sistema. À população aconselha: “mais vale prevenir do que remediar”, reforçando a importância do rastreio. Decisivo não só nesta efeméride, não só em pandemia, mas sempre.
Qual foi o impacto que a pandemia teve nos rastreios oncológicos em Portugal?
O impacto foi grande. Nós temos três grandes rastreios oncológicos populacionais: o da mama, colo do útero e colorretal, mas há que diferenciar entre cada um deles. O rastreio do cancro da mama parou em todo o país, durante 3 meses, desde meados de março até meados de junho de 2020. Depois reiniciaram-se os rastreios, o problema foi que este processo foi lento. Relativamente ao colo do útero, na medida em que é baseado nos centros de saúde – e, como nós sabemos, os centros de saúde estiveram praticamente paralisados em termos de assistência não covid – está a ser feita uma recuperação muito, muito lenta. Falando numa perspetiva “do copo meio cheio e do copo meio vazio”, o copo meio cheio é que, apesar de tudo, a grande maioria dos cancros do colo do útero têm um crescimento relativamente lento. No caso do cancro da mama, continua a partir-se de um “ponto zero” muito bom. No rastreio do cancro colorretal, que ainda tem uma cobertura relativamente incipiente, o problema é outro. Surge aqui um problema que não é derivado da Covid e que já existe há muitos anos: quais são os recursos de colonoscopia que temos? Quais aqueles que precisamos? Temos muito poucos, relativamente às necessidades! Nestes casos, o estrangulamento continua agravado pelo facto de a colonoscopia ser um procedimento relativamente invasivo.
São, portanto, três situações diferentes…
Exatamente. E ainda há coisas por recuperar. A normalização tem a ver com índices de produção e não de produtividade, portanto não basta fazer a mesma coisa do que em 2019, nós temos que fazer a mesma coisa de 2019 e recuperar o que ficou por fazer em 2020 e 2021. Se considerarmos que, por exemplo no caso do cancro da mama, tínhamos cerca de 350 mil mamografias por ano (grosso modo), estamos a falar de 30 mil por mês, se os rastreios estiveram 3 meses parados, estamos então a falar de menos 90 mil mamografias. Aquilo que nós sabemos empiricamente, é que neste momento, no caso destes três rastreios, há pessoas a chegar com diagnósticos mais tardios e em estados mais graves, com metastizações que há muito tempo que não se viam, infelizmente.
Os dados estimam que 148.845 mulheres não tenham feito mamografia nos últimos dois anos, sendo que 1.868 mulheres com cancro de mama terão ficado por identificar. Já 158.045 mulheres não realizaram colpocitologia, estimando-se que 399 com cancro do colo do útero tenham ficado por diagnosticar, e 83.779 utentes não fizeram rastreios do cancro do cólon e reto, prevendo-se que 2.155 doentes não tenham sido diagnosticados. Qual é o real impacto destes números para os doentes?
Vai haver, infelizmente, algum impacto em termos da sobrevivência porque, como é evidente, quanto mais tardiamente é diagnosticado o cancro, maior será a carga invasiva em termos do tratamento. Além disso, serão tratamentos mais caros e com menor taxa de sobrevivência. Estou convencido que a médio prazo, três a cinco anos, nós vamos ver um ligeiro aumento da mortalidade que, se nós olharmos de uma maneira muito mais fina, vamos vê-lo, mas que poderá não ser percetível no “bolo” global, juntando todos os casos.
Sentiu, enquanto presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro até ao final de 2021, esse impacto? E mesmo agora, que continua a ser presidente do núcleo do centro?
Senti de várias maneiras. Primeiro que tudo, uma grande aflição das pessoas. Em termos globais, houve uma tentativa da minha parte em dar algum sossego e alguma serenidade à população. Outro problema muito aborrecido e que tentámos resolver, foi o famoso problema dos atestados médicos de incapacidade multiusos. Já antes da pandemia existiam atrasos que chegavam a 9 meses, sobretudo na região norte, relacionado com problemas com as juntas médicas. Portanto, se antes já havia problemas, então, com a pandemia, tudo se agravou. Além disso, enquanto Liga Portuguesa Contra o Cancro, estávamos à espera de vários pedidos de apoio social e, curiosamente, isso não se verificou em termos globais. Reparamos que nos concelhos onde as chamadas forças locais tiveram uma ação imediata de ajuda, os pedidos foram muito reduzidos.
 O problema do número baixo de convocatórias para rastreio foi agravado com a pandemia, contudo era uma preocupação que já existia antes? Se sim, porquê?
O problema do número baixo de convocatórias para rastreio foi agravado com a pandemia, contudo era uma preocupação que já existia antes? Se sim, porquê?
Já existia. O poder político tem dificuldade em olhar para os casos concretos das pessoas. Aliás, esse é um dos problemas do poder político no geral. Não há dúvida nenhuma que nós já estávamos com um sistema de saúde confuso e com uma suborçamentação crónica há imensos anos. Há uma falta de restruturação, isto é, se nós temos as coisas a evoluírem num determinado sentido, o sistema de saúde pode ser conceptualmente igual, mas os procedimentos têm de ser adaptados às circunstâncias do dia-a-dia.
E esses procedimentos, podem ficar mais ágeis com investimento tecnológico?
O investimento tecnológico no SNS está, praticamente, paralisado. Por exemplo, na radioterapia, nós tínhamos e temos equipamentos a ficar “cansados com o trabalho”. A radioterapia é um dos tratamentos mais rentáveis a nível da oncologia e de repente, parou.
Vê, então, a modernização dos equipamentos como uma prioridade para o futuro?
Sim, mas modernização não é só comprar. É preciso que entrem em funcionamento rapidamente e que haja pessoal habilitado para trabalhar com eles.
O rastreio ao cancro do colo do útero foi o mais afetado, porque é implementado pelos médicos de família – que foram direcionados para a atividade assistencial específica da Covid-19, por decisão política. Neste sentido, o que considera que é mais urgente ser feito para reverter esta situação?
Primeiro que tudo, colocar os cuidados de saúde primários, na sua maior percentagem possível, a trabalhar normalmente, nem que seja necessário alocar alguns recursos ao espetro da Covid-19. A prioridade é que os cuidados de saúde primários recuperem e normalizem o seu serviço, no que toca, principalmente, ao diagnóstico e acompanhamento das doenças crónicas. Contudo, a confiança das pessoas também tem de ser recuperada, embora me pareça que a situação já está a melhorar. Devo confessar que gosto muito do nosso sistema de saúde em termos de conceito, contudo, durante dois anos, os cuidados de saúde primários estiveram completamente desviados para uma situação, claramente urgente, mas que os desviou, e isso é impensável. Hoje, dá-se conta de cerca de 20 mil óbitos devido à Covid, mas todos nós sabemos que há muitos mais óbitos indiretamente derivados da Covid. Não baixando a guarda, temos de preparar o futuro e retomar a normalidade, não há outra hipótese. Se queremos manter o SNS como ele é, e penso que todos queremos, já que o SNS foi um dos maiores sucessos em termos da coesão territorial no nosso país, temos de o adequar, olhando, por exemplo, para os aspetos da digitalização e aproveitar as vantagens das novas tecnologias em prol da melhoria da comunicação e de procedimentos, seja para os profissionais, seja para os utentes.
O número de diagnósticos realizados estão a voltar ao nível pré-pandémico. Contudo, se apenas estamos de volta aos valores pré-pandémicos, significa que não estamos a recuperar os doentes que não foram rastreados durante a pandemia. Considera que está a ser feito um esforço para recuperar essas pessoas? É possível fazê-lo?
Nós não temos registos que nos deem a quantidade de atrasos, temos os números que nos dão a quantidade de adiamentos, contudo, não sabemos se realmente conseguiram, entretanto, efetuar os rastreios. Aqueles que fugiram ao sistema vão ser recuperados, não tenho a mínima duvida, pode demorar 6 meses ou 1 ano, mas vão ser recuperados.
 Não receia que essa recuperação seja feita num estado já demasiado avançado da doença?
Não receia que essa recuperação seja feita num estado já demasiado avançado da doença?
Depende. Quando falamos em oncologia, não estamos a falar de uma doença, estamos a falar de um conjunto de doenças em várias localizações e com vários tipos de características e uns com “bom feitio” e outros com “mau feitio”, chamemos-lhe assim. Aqueles com péssimo feitio biológico nós já não os conseguimos apanhar, por exemplo, casos como cancro do pulmão, cancro do fígado ou do pâncreas. Aqueles casos de cancros mais “simpáticos” e com melhor feitio, nós vamos apanhá-los e vamos apanhá-los quase na mesma estadia que apanhávamos anteriormente.
A nível europeu, a meta com que Portugal se comprometeu é alcançar, até 2025, uma taxa de convocatória para rastreio de 90% da população elegível. No caso do cancro da mama, estamos perto de alcançar essa meta (exceto Lisboa e Vale do Tejo), nos outros programas de rastreio isso não se verifica. No cancro do colo do útero, em 2019, só foram convocadas 51% das mulheres elegíveis. Quanto ao cancro colorretal, foram convocadas apenas 27% dos elegíveis. Porque é que estes dois últimos estão tão aquém das metas europeias?
Penso que há várias causas. Em primeiro lugar, a visibilidade social e a maneira como nós todos olhamos para cada uma das localizações. Em segundo lugar, encontra-se a maleabilidade de estruturação, isto é, é necessário existir uma capacidade de avançar e agir depressa, mas não à pressa. Por exemplo, é totalmente aceitável que as colonoscopias, após o rastreio do cancro colorretal, sejam contratualizadas com quem tem o equipamento, a experiência e os recursos. No que toca à questão europeia trata-se de uma meta que gostaríamos de ter. O maior problema de Portugal é a falta de capacidade de organização, que leva a incapacidade de sustentabilidade e, consequentemente, conduz à falha.
Como vê o papel da Ordem dos Médicos e do bastonário nestes tempos de pandemia, relativamente à chamada de atenção não só para a Covid-19, como também para as restantes doenças?
Houve um conjunto de atores que foram obrigados a exporem-se mais e a Ordem dos Médicos, como não podia de deixar de ser, teve um papel extraordinário nesse âmbito. O seu campo de atuação e a perceção que a população tem do seu ato, obrigava a que a Ordem dos Médicos se mostrasse do lado de quem precisava mais, ou seja, do lado das pessoas. Desta forma conseguiu-se dar alguma segurança aos cidadãos, a nível científico e técnico. Em momentos de crise sanitária, quem tem de aparecer é quem melhor conhece o problema. Seguindo este raciocínio, é evidente que o nosso bastonário tem feito um trabalho muitíssimo bom.
Quer deixar alguma mensagem para a população em geral neste Dia Mundial Contra o Cancro?
Como se costuma dizer: mais vale prevenir do que remediar. Se houver alguma hipótese de identificarmos o mais cedo possível uma doença, porque não fazê-lo? É importante que as pessoas saibam que a sua saúde é da sua própria responsabilidade e não dos outros. Este dia é ideal para a sensibilização desta matéria.