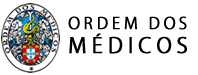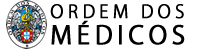Autora: Clara Cabral Vilares, Médica Interna de MGF no 4º ano (USF UarcoS – Unidade Local de Saúde do Alto Minho)
Resumo: A escolha da Medicina Geral e Familiar (MGF) pode prender-se com fatores múltiplos. Aquele que mais me atrai é poder prestar cuidados personalizados, adequando as possibilidades às necessidades da pessoa. Diariamente sou confrontada com situações diversas, que contrariando a rotina, nos tornam um elemento primordial na gestão da saúde do individuo, destacando a gestão da polimedicação.
O internato de formação específica em MGF foi marcado pela aprendizagem sistematizada de qual a nossa função e o motivo pelo qual somos diferentes: fala-se do médico de família responsável por uma abordagem holística, responsável pelos cuidados centrados na pessoa, responsável por executar uma abordagem de cuidados abrangentes, com aptidões especificas para a resolução de problemas, com orientação comunitária de cuidados e, por fim, mas não menos importante, como gestor dos cuidados primários.
Chego ao final do meu internato e, de facto, nunca me senti tão gestora como até então. Gestora de tempo: pessoal e profissional. Agora, a breves meses de possivelmente liderar uma lista de utentes, só e autónoma, apercebo-me da responsabilidade que me é incutida a nível de gestão da saúde.
Ora vejamos este exemplo tão simples que, ultimamente, me tem causado alguns, bons, momentos de reflexão: a introdução ou switch, para novos anticoagulantes orais (NOACs), em doentes com fibrilação auricular.
Trabalho numa zona rural, numa unidade que abrange utentes que residem no parque da nacional da Peneda-Gerês, em freguesias pequenas que distam, por vezes, mais de 45 minutos de carro de praça – como muitos eles lhes chamam – até nós. Trata-se de uma população envelhecida. A maioria reformados da atividade agropecuária que mantêm em ínfima escala, apenas para preencher os pratos de refeição, nos dias que correm. Outros tantos vivem sós, não casaram ou já perderam os seus companheiros. Contam com apoio de alguns elementos da família que foram ficando na aldeia, da mesma geração que eles, mas outros, apenas com auxílio dos vizinhos. Outros há, ainda, que estão efetivamente sós, quer pela distância das suas residências, pela dificuldade de locomoção, quer pelo feitio que lhes dificulta a convivência. Quase todos falam com os filhos (os que os têm), com frequência, via telefone, no entanto, só no Natal e no querido mês de agosto se dão efetivamente os reencontros. Dias que se tornam escassos para colmatar a saudade, pôr a família a par das novidades e, ainda, conversar sobre o estado de saúde: as dificuldades, as necessidades.
Até lá, diariamente vou exercendo a minha profissão, de forma holística, observando e avaliando comportamentos, necessidades e recursos. Avaliando a biometria e a memória, a capacidade de se auto-cuidarem. Vou gerindo os meios de apoio disponíveis, quando as situações se começam a revelar mais preocupantes. Mas se há algo que diariamente me inquieta é a autogestão da polimedicação. Penso, diariamente, que eles falham. Nós, jovens ativos, temos falhas. Como não hão de eles as ter, quando olham para todas as caixas repletas de blisters com comprimidos de vários tamanhos e cores diferentes, mas que por momentos “são parecidos aos que a outra doutora me deu no hospital” e, nesse instante, percebemos que está tudo confundido. Ou, como aí há dias me disseram: “este, doutora, tem que ser mesmo dois por dia? – falávamos de um NOAC de toma bidiária – “apenas tomo um. São caros e, assim, uma caixa rende para dois meses”. É verdade. Indiretamente, temos que gerir orçamentos alheios: fazer o melhor que sabemos, com o que temos disponível. Gerir. Recentemente, agendaram-me uma consulta aberta: uma utente idosa, que reside só e que verifico pelo histórico, na última semana, tem múltiplas vindas à unidade por hemorragias de origem em pequenas feridas que tem em ambas as pernas. Trata-se de uma utente hipocoagulada, previamente com varfarina, em que foi, recentemente, feito o switch para um NOAC. Na verdade, nunca há registo de hemorragia ativa à chegada, está hemodinamicamente estável e acaba por voltar para casa. Dispenso minutos extra àqueles que cada doente tem direito por consulta e verifico que tem no seu historial da PEM (Prescrição Eletrónica de Medicamentos) receitas de dois diferentes NOAC. Interrogo-a. “Não sei do que me fala. Tenho tomado tudo o que tenho la em casa”. Contacto um sobrinho, explico a situação, agradeço que verifique o que se passa ou, se incapaz, que me traga todos os medicamentos para que possamos todos ficar mais descansados. Confirmou-se o esperado. Passar-se-á a ter atenção redobrada na gestão da dispensa da medicação à utente, quer relativamente à emissão de receituário, quer na toma diária, contando com apoio do sobrinho, pois, até então, o risco da hipocoagulação estava bem para lá do benefício.
Outra situação que me tem vindo frequentemente à ideia, relativamente a esta temática, têm sido as situações em que estes mesmos nossos utentes-tipo, por alguma intercorrência aguda, dão entrada no hospital da sua área de residência. Após feito o diagnóstico e estabilização, tem alta clínica com um NOAC e “entregue assim que puder esta carta a sua médica de família”. De facto, a carta chega até nós. O utente, muitas vezes, é que não. Apenas quando a medicação termina. Nesses casos, tendo nós, médicos de família, o privilégio/o(brigação)portunidade de conhecer o meio envolvente, a dinâmica familiar, a rede de apoio dos nossos utentes, percebemos que, provavelmente, em algumas situações, o risco mantem-se para lá do benefício, pois trata-se de um doente cujo incumprimento terapêutico é uma constante, seja por que razão for. Cabe-nos refletir sobre o assunto, convocar ou ir, in loco, verificar como tem sido feita a gestão medicamentosa. Devia ser assim, penso eu. Se é sempre possível, penso que não.
Temos que capacitar os doentes, bem sei. Mas em alguns casos é de facto uma tarefa árdua: quando a instrução é baixa ou inexistente, quando a rede de apoio é precária.
Apesar das novas diretrizes, relativamente ao uso dos NOACs, da Sociedade Europeia de Cardiologia, serem claras relativamente às indicações, contraindicações, perfis de segurança, nomeadamente em relação às reduzidas interações medicamentosas e alimentares, à tolerabilidade da função renal e à existência de um antídoto, na verdade, na minha prática diária a gestão desta medicação continua a requerer-me a maior atenção, considerando a população com quem trabalho e os recursos disponíveis. Os NOACs tenderão a ser a regra, parece-me, mas diariamente apercebo-me que não há regra sem exceção. E este tema não é exceção. E serão, na minha prática diária, exceção todos aqueles que na impossibilidade de os capacitar da importância do cumprimento posológico ou na dúvida acerca do mesmo, terei preferência em mantê-los por perto, rotineiramente, numa consulta para controle de INR, que na perspetiva de gestão, me permitirá aferir questões relativas aos autocuidados, quer de higiene, quer alimentares, assim como avaliar a deterioração das suas capacidades físicas e averiguar o estado da memória. Assim sim, sentir-me-ei uma médica de família, gestora de cuidados, numa perspetiva holística. São ou serão poucos os que cumprem este último perfil, mas são esses que exigem mais de nós.
Bibliografia:
– Steffel, J. et al; The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation; European Society of Cardiology; European Heart Journal (2018) 00, 1-64.