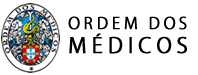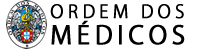Autor: M.M. Camilo Sequeira, Internista aposentado
Toda a vida me confrontei com paradoxos sobre normativos em que acredito sem que isso, julgo, tenha sido limitativo da minha capacidade de procurar conhecer-me e conhecer os outros. Por exemplo: sou favorável à pena de morte para o criminoso irrecuperável, mas também sou associado da Amnistia Internacional para pugnar sem qualquer hesitação para que esta seja abolida em todo o mundo. E não posso ter outra atitude porquanto aquilo em que acredito nunca pode ser implementado pois implica o conhecimento de uma verdade que ninguém possui nem virá a possuir. Por outro lado, sou o cidadão que sou porque me construí na convicção de que a censura é a mãe e o pai de todas as formas de limitação de direitos, de construção de todas as diversidades conflituais, de todos os bloqueios ao crescimento partilhado dos diferentes que somos. No entanto acho que o que hoje chamamos informação jornalística, em muito grande percentagem, deveria ser proibida nas diversas entidades que designamos como meios de comunicação. Esta convicção, no entanto, não me permite defender o que tenho como indefensável: qualquer tipo de limitação à liberdade de imprensa. Por isso me afirmo disponível para, se necessário, sacrificar a minha vida na defesa do direito da imprensa e afins dizerem “o que muito bem lhes aprouver” seja qual for a minha opinião pessoal sobre esses dizeres.
Democracia
Estes serão paradoxos extremos duma vida que é a minha. Mas sei doutros que me acompanham diariamente, que me continuam a formar, os quais, sendo talvez mais subtis, nem por isso são menos paradoxos. Por exemplo, julgo que é mais ou menos unanimemente reconhecida a relevância do sindicalismo como uma das bases da democracia. Em meu entender estamos a viver um tempo em que o movimento sindical tem de se reestruturar mas, reestruturado ou não, o activismo símbolo desta forma de expressão da vontade democrática é a greve. É o último andar da reivindicação pacífica e tem como consequência imediata inevitável um óbvio prejuízo para os menos favorecidos economicamente: porque perdem o salário desses dias, porque podem ficar impedidos de se deslocarem livremente por ausência de transportes alternativos ou por impossibilidade em encontrar lugar seguro onde deixar os filhos pequenos, enfim, porque serão eventualmente maltratados pelos pares que se sintam sobrecarregados com as suas ausências “sejam ou não compreensivos em relação às suas justificações”. Mas quem, sendo democrata, considerará que a greve deve deixar de ser uma forma de exprimir apaixonadamente um direito que se tem como desrespeitado? Mas é paradoxal que o imediatamente prejudicado por usar um direito básico da democracia seja exactamente o que tem de fazer a greve e não o que a quer contrariar.
É singular, mas não é inédito. Porque a democracia, o reconhecimento desta forma de governar como a única que dá direitos sem olhar a quem, também é um paradoxo. Infelizmente bem dramático nos dias de hoje.
Quando o conceito foi criado era uma fórmula que concedia a quem se podia dedicar ao ócio, o equivalente desse tempo grego à escola, à aprendizagem, à discussão reflexiva, um direito, que também era dever, de bem organizar colectivamente quer as suas vidas quer as dos que não tinham esse direito por serem gente sem gosto pelo ócio, gente do negócio, gente sem disponibilidade para o gosto de pensar. Era a democracia dos privilegiados economicamente, mas também intelectualmente, que se esperava que bem governassem a cidade. Sendo a boa governação uma pretensão dos que tinham o privilégio e, talvez também, pelo menos de alguns dos excluídos por esta forma de democracia.
Foi a longa história de atrocidades cometidas em todas as épocas e em todos os lugares contra os diferentes, mormente se mais fracos, que permitiu alargar o conceito ao normativo que hoje temos como inquestionável.
Neste século XXI viver em democracia significa viver com os outros em igualdade social, com respeito absoluto pelas diferenças seja qual for o entendimento que se tenha do ser-se diferente. Em democracia o outro só por ser outro já é meu igual.
Foi esta convicção, este valor orientador, que permitiu ao mundo que designamos como da “cultura ocidental” atingir um nível de bem-estar social sem equivalente em toda a já longa existência da Humanidade. Seja qual for a época ou o tipo de relacionamento entre povos que conhecemos.
Pertenço à geração que pode afirmar ter vivido usufruindo deste momento máximo de conforto, de segurança, de saber, de sistemática esperança de todos os dias se estar a evoluir para um dia ainda melhor do que o muito bom do dia anterior. Infelizmente e para mal da Humanidade esta realidade só o é para uma pequena parte da mesma.
O que nos obriga, pelo menos aos beneficiados, a fazer exercícios de estudo teórico, prático e outros, para se tentar perceber o porquê dessa diferença. O bom desta necessidade é sabermos que há académicos que pensam no assunto e procuram fórmulas para aumentar o número de grupos beneficiados. O mau é sabermos que estes estudiosos têm tido pouca ou nenhuma influência sobre quem escolhemos para fazer a governação das nossas terras. E talvez menos por culpa directa destes, mas antes por serem, demasiadas vezes, representantes de outros, os muito, muito grandes beneficiários, que tudo fazem para proteger a sua vantagem e impedir qualquer forma de partilha que acham ser seu prejuízo.
O custo deste desencontro ainda está por avaliar mas há sinais que, para o presente, parecem ser justificação suficiente para que os cidadãos comuns, mormente os privilegiados da democracia como eu e a minha geração euro-norte americana, tentem perceber, para lá das causas das diferenças de desenvolvimento, uma outra característica da democracia: o que é que está a conduzir-nos para a degradação de um bem-estar que julgávamos ser permanente e que estávamos certos de ser cada vez mais abrangente. Certos de que em tempo breve ou relativamente breve chegaria a outros que o desejam tanto como nós, que o merecem tanto como nós.
É imperioso que nos interroguemos sobre o que se está a passar com a democracia, sobre o que a leva a escolher como seus representantes cada vez mais homens e mulheres que não acreditam nela.
O paradoxo
Será defeito da democracia, dos democratas ou será uma simples ilusão de perda sem relação com a realidade? Preferia que fosse esta a verdade em causa mas receio que a minha vontade não seja mais que um desejo.
Temos de repensar a forma como foi construído o actual bem-estar e de admitir que talvez tenhamos criado uma confiança injustificada na democracia, que talvez a tenhamos interpretado de forma demasiado abrangente.
E assim chegamos ao paradoxo: a democracia que não nasceu como sendo de todos foi, entusiasticamente, quiçá descuidadamente, transformada em de todos. E quando este valor era tido por nós como um inquestionável absoluto eis que, parece (parece?), que era a versão original que estava correcta. De facto, julgo eu que me pretendo democrata, ser defensável que a democracia seja protegida daqueles que nela não acreditam “impedindo-os” de serem iguais aos democratas. Isto é, a democracia criou um mundo que é melhor que qualquer outro como valor de todos. Mas para que esse objectivo continue a sê-lo terá de deixar de ser universal marginalizando os anti-democratas que são, com esta interpretação, agentes de regressão social.
Mas quem são estes anti-democratas? Só há uma resposta: são todos os que pretenderem o poder do mando colectivo com o propósito de dividirem a sociedade entre “bons” e “maus”. E ao contrário da democracia que distingue democratas e anti-democratas nem é preciso definir quem são aqueles uns e outros porque é a segregação social como princípio e não as características particulares dos segregados excluídos o que define o anti-democrata.
O democrata quer bem-estar partilhado para todos, democratas ou não. O anti-democrata quer retirar a alguns o direito à fruição desse bem-estar partilhado.
Anti-democratas também são os que, afirmando-se democratas para chegarem ao poder que desejam, actuem depois de forma sectária, promovendo outra qualquer forma de divisão da sociedade entre “bons” e “maus” aparentemente legitimada pelo poder da eleição. Esta prática sócio-política deve implicar a sua remoção imediata do poder, seja qual for a expressão da sua vitória democrática, “em nome da democracia que adulteraram”.
É um paradoxo. É uma verdadeira contradição e, para muitos, será a negação da democracia. Talvez tenham razão. Mas julgo ser o caminho que a democracia tem de percorrer, ainda que dolorosamente, para impedir que agentes da exclusão obtenham o direito de mandar nessa democracia, em nome da mesma, mas contra os seus valores identitários.
Defender o paradoxo
Pode parecer desadequado defender a democracia invocando a necessidade de a promover através de um modelo social que consideramos como anti-democrático.
Mas vale a pena reflectir sobre a História, mormente a recente, e especular sobre o que seria a vida hoje se a democracia tivesse sabido impedido Hitler de ascender ao poder numa Alemanha desgastada e sofredora do pós 1ª guerra mundial. Claro que não podemos saber que vida teríamos, mas sabemos demasiado bem qual foi o resultado, pelo menos neste caso, de aceitarmos a democracia como valor absolutamente intocável.
Todas as sociedades, com o seu envelhecer ao longo do tempo, têm de se adaptar a novas regras relacionais, a novos movimentos de opinião que se vão estruturando, a novas necessidades e formas de as satisfazer para salvaguardar o que construíram de bom. Principalmente quando o tempo para aprender a mudança se torna todos os dias mais curto do que era habitual. As adaptações sociais, hoje, têm de se fazer com a certeza de poderem necessitar de nova alteração antes de concluídas. O que nos permite afirmar que a democracia será, como outro qualquer sistema de organização da vida colectiva, mutável. Mas sem modificar o seu objectivo basilar de permitir que todos possam ser dela beneficiários. Ora no tempo em que vivemos parece demasiado evidente que as mudanças a que estamos assistindo não são orientadas para a aceitação do outro e da sua diferença mas antes para o confronto potencialmente violento cuja justificação bastante será, apenas, uma qualquer forma de diferença.
Tanto quanto julgamos perceber não foi o caminho da violência, apesar da violência que acompanhou esse caminhar, que se teve de percorrer para chegarmos ao bem-estar que associamos à ideia de desenvolvimento baseado na democracia. Parecendo-me por isso legítimo contrariá-lo em nome desta.
Claro que todos os paradoxos são complexos e provocam sofrimento pois denegam uma parte do que somos. É complexo e absurdo afirmar-me favorável à pena de morte como justiça democrática e estar disponível para não só nunca defender aquilo em que acredito como também para lutar sem qualquer reserva contra os que acreditam no mesmo que eu. Estes querendo impor o valor por acreditarem nele, eu querendo impedi-lo exactamente pelo mesmo motivo. A verdade é que é obrigação de todos os homens perante um valor colectivo que percebam maior que a sua condição, saber o lugar que devem ocupar num combate quando este se iniciar.
É exactamente este princípio que temos de assumir para defendermos a democracia e o que ela nos ofereceu. E para tentarmos que os muitos que dela ainda não beneficiam, que dela estão excluídos, consigam fruir dela, como nós já fruímos, num futuro tão mais breve quanto possível.
E não vem ao caso afirmar que não se tem o direito de impor a democracia a terceiros quando ela não é percebida por esses terceiros como sua vantagem. Claro que não. Tal como não tem qualquer sentido impedir os promotores de cada valor social alternativo de tentarem encontrar seguidores entre democratas. Mas tem todo o sentido dar a conhecer a todos, sem qualquer restrição ou condicionalismo, o que cada um desses valores já construiu e deixar que, livremente e em consciência informada, cada um escolha o que melhor pareça, para si ou para o seu grupo, como adequado para construir felicidade.
E julgo razoável afirmar que até ao momento actual é correcto dizer-se que a democracia, tal como foi concebida no mundo ocidental, é mais criadora de bem-estar que quaisquer dos outros modelos em vigor. Podemos afirmá-lo porque os outros existem ou subsistem pela repressão e pelo exercício de manipulação das consciências. Tal como podemos afirmar que todas as mudanças que ao longo da História se foram impondo aqui e ali só o foram quando os que as ignoravam tomaram conhecimento da existência de outros valores, de outras normas, de outras formas de viver em lugares diferentes daqueles onde eles viviam.
Mudar é um critério de crescimento quando a mudança acarreta melhoria de condições sociais para um número sempre maior de pessoas. E mesmo que o conceito de melhoria seja discutível há sempre, para cada época mas não para cada comunidade, índices de bem-estar que podem ser a sua referenciação. Menos pobreza. Menos doenças infantis. Menos conflitos interpessoais e intergrupais. Mais cooperação. Maior participação na gestão da vida quotidiana. Mais confiança nas pessoas. Mais tolerância em relação ao diferente. Igualdade. Deveres e direitos comuns.
Comparando o tempo em que vivemos com os tempos em que outros viveram antes podemos afirmar com grau razoável de certeza que a democracia em abstracto foi a melhor forma de nos governarmos que conseguimos criar. O que nos impõe a obrigação de a defendermos de todos que a queiram ou eliminar ou manipular.
Mesmo que isso implique, pelo menos neste momento, defendermos o paradoxo de ao seu carácter de todos termos de juntar menos os anti-democratas.
E que fique claro que defender este paradoxo não nos torna anti-democratas. Seremos, sim, democratas em angústia, inquietos com a incerteza da coerência ao acreditarmos num valor cuja defesa nos obriga a agir de forma que parece, que poderá ser, não democrática.
Democracia nos cuidados médicos
Será que o paradoxo da democracia deve ser reflectido num jornal médico? Em meu entender dificilmente haverá outro lugar melhor. Porque a prática clínica é autocrática quando estuda o doente, quando afirma um diagnóstico, quando propõe um tratamento, quando define um prognóstico. E não o é menos por ser apoiada com o consentimento informado.
De facto a interpretação dos sinais e sintomas e a validação relativa de uns e outros com a sua subsequente transformação numa potencial entidade nosológica são competência dos Médicos onde o consentimento do doente não tem lugar. Este apenas surge quando se propõem as medidas de investigação ou os planos terapêuticos tidos como necessários, absolutamente necessários, ao propósito de alívio das queixas ou de “cura” do que justificou a procura de ajuda médica.
E é neste domínio que a democracia surge no seu apogeu.
Porque o consentimento informado apenas se pode considerar como tal quando o doente estiver correctamente conhecedor do que foi avaliado como sinal de doença mas também, e principalmente, do valor da sua autoridade como interlocutor do Médico que permitirá ou não o avanço do trabalho deste no interesse do próprio doente.
A relação médico-doente, que se pretende ver reconhecida como valor universal identificável com o conceito “humanização”, é um jogo democrático idiossincrático onde um especialista tem de mostrar a um cidadão comum interessado quais as variáveis relacionadas com a sua saúde e por vezes com a sua vida, sobre que tem de ter opinião. Aceitando ou recusando a opinião desse especialista na gestão dessas variáveis.
O doente tem de, quando se julgar adequadamente informado, impor, democraticamente, a sua interpretação dos sinais ao especialista que, mesmo que seguro do seu saber, o faz depender da vontade esclarecida de um ignorante na matéria em causa. Jogando ambos com o propósito de fazer o que for melhor para o doente podem decidir, em conjunto, o que o especialista julgar menos adequado. Mas mais correcto. Porque o saber do doente enquanto analista das informações que recebeu e a sua ideia de vida ou de bem-estar são um critério de decisão que se impõe às duas partes em potencial conflito.
Há democracia porque há conhecimento. Há democracia porque ambos pretendem o melhor para o doente. Há democracia porque, embora discordando, uma das partes aceita a diferença interpretativa como critério de decisão fazendo o acordado, mas mantendo sempre a vontade de melhor esclarecer a sua opção. Há democracia porque nenhum quer excluir o outro do processo de decisão. Há democracia porque ambos, livremente, decidiram qual o caminho que deve ser percorrido.
E a liberdade é o alicerce da democracia. Na profissão médica à autocracia do saber científico sobrepõe-se o valor da partilha informada quando o conhecimento da ciência se cruza com essa outra forma de saber que é o que cada um de nós considera ser existir com dignidade e/ou ajudar a construir um mundo melhor.
Curiosamente nenhum destes conceitos implica uma escolha científica. Embora não a exclua.