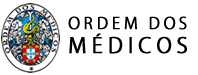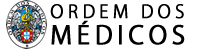Autor: Carlos Costa Almeida, Ex- Director de Serviço de Cirurgia do HG-CHUC, Professor da Faculdade de Medicina de Coimbra, Presidente da APMCH
Uma amiga minha holandesa veio a Portugal há anos, em trabalho, e aproveitou para dar uma volta de carro pela zona centro do país. Quando regressou, disse-me: “Tu vives num país inacabado!”. Fiquei surpreendido – esperava que as suas primeiras impressões fossem sobre o sol, a paisagem, a simpatia das pessoas, a boa comida, o bom vinho e as más estradas – mas depois de pensar um pouco não pude deixar de lhe dar razão. Bastou-me evocar as bermas das estradas novas, não arranjadas e, na verdade, completamente esfarrapadas; o terreno à volta das casas recém-construídas e já habitadas, cheio de restos de material de construção ali esquecidos, como bocados de madeira, latas de tinta vazias, areia, etc.; as placas centrais das avenidas novas e o espaço debaixo das pontes já construídas e utilizadas, durante tempos infindos “decorados” com o entulho das respectivas obras, e do mesmo modo as placas centrais das rotundas, frequentemente deixadas durante muito tempo cheias de pedras, lixo, sinalizadores de plástico…. Se bem pensarmos, até dizem que dá azar acabar completamente a nossa casa…
Os exemplos que corroboram a justeza da apreciação daquela minha arguta amiga, cidadã pragmática e eficiente dum país do norte, em relação ao nosso velho Portugal, são, na verdade, inúmeros. Bastar-nos-á, inclusivamente, olhar à nossa volta no local onde diariamente nos esforçamos por trabalhar o melhor possível: um Bloco Operatório terminado sem que os respectivos acessos por elevador tenham sido construídos, por quem o devia ter feito, a Unidade de Cuidados Intensivos Pós-Operatórios de obras feitas mas sem equipamento nem doentes, a nova Urgência à espera sine die, já com as colunas de cimento armado erguidas, os caixotes com equipamento jazendo tempos infindos pelos corredores…
Antes de estabelecidos os internatos médicos hospitalares, a especialização pós-graduada era conseguida com base em dois aspectos fundamentais: o convite e o voluntariado. Os recém-licenciados podiam ser convidados para assistente, seguindo depois ou não a carreira docente, mas tendo desse modo a possibilidade de receber treino na especialidade eventualmente do seu agrado. E digo “eventualmente” porque a maior parte das vezes não eram eles que a escolhiam, eram antes os jovens médicos que eram escolhidos pelos professores para as diversas cadeiras, correspondentes às várias especialidades. Digamos que o dar aulas práticas, para aqueles não especialmente interessados na docência, era, para além, obviamente, duma forma de valorização pessoal, um meio para atingir um fim: tornarem-se especialistas. E ganhando dinheiro ao mesmo tempo, porque havia os que o faziam voluntariamente, trabalhando no hospital, na especialidade da sua escolha, mas só depois de serem aceites no serviço respectivo, sem por isso receberem um tostão. Era o que vulgarmente se chamava “tirar a especialidade à Ordem”: após um período de tempo variável, de acordo com o que iam conseguindo fazer no hospital e com a opinião do Director do Serviço onde estagiavam, podiam apresentar-se a exame final na Ordem dos Médicos, a fim de obterem o respectivo título de especialista.
Refira-se que neste quadro havia uma excepção no que respeita especificamente aos Hospitais Civis de Lisboa, com os seus internatos pagos, com concurso de admissão e perfeitamente estruturados, e, com certeza também por isso, de altíssima qualidade e durante longo tempo referência para todo o país. Acrescente-se ainda que nos outros Hospitais Centrais havia também concurso todos os anos para admissão de um total de dois ou três internos, pagos pelo hospital, e que eram escalonados por ordem da classificação final no curso.
O facto de os internos voluntários não ganharem nada no hospital onde treinavam, e caso não tivessem meios próprios ou de família que os sustentassem durante aqueles anos, sendo já licenciados, levava a que procurassem trabalho remunerado como médicos, o que faziam fora do hospital. Era o célebre trabalho de “fazer caixas”, isto é, fazer consultas de clínica médica nos postos clínicos das Caixas de Previdência, como se chamava a Segurança Social de então. Isto é, havia que dividir, e frequentemente sobrepor (…), o horário de trabalho gratuito no hospital, de especialização, com o de trabalho remunerado, de sobrevivência, nas “caixas”. Imagina-se a dificuldade em obter deste modo uma preparação especializada aceitável, em matérias ainda por cima eminentemente práticas, de contacto directo com os doentes. Não havia controlo nenhum obrigatório da sua actividade hospitalar, mas eram, evidentemente, obrigados a cumprir o seu horário nos postos clínicos onde viam doentes. O exame final, na Ordem dos Médicos, mais ou menos difícil consoante os júris, mas desgarrado que era em relação à real preparação clínica dos candidatos, não tinha, porque não podia pura e simplesmente ter, em conta o que eles sabiam fazer, ou tinham feito, na prática. E uma especialidade médica não pode, obviamente, ser puramente livresca: ela é para exercer na prática, é para lidar com casos concretos, nas consultas, nas enfermarias, nos blocos operatórios.
Em 1982 foi criado o Regulamento dos Internatos Médicos, com o objectivo de estruturar o ensino médico pós-graduação em Portugal. Entraram então em funcionamento os Órgãos dos Internatos Médicos – Directores de Internato Médico, nos hospitais, e Coordenadores de Internato na Clínica Geral e na Saúde Pública, Comissões Regionais de Internato Médico (CRIM), Comissão Nacional dos Internatos Médicos (CNIM), presentemente Conselho Nacional dos Internatos Médicos – visando a organização, nacional, regional e local, desse ensino, o qual foi, desse modo, tornado algo definido por lei, obrigatório de adquirir e de ministrar.
A fim de permitir que os internos se dedicassem completamente à sua função específica – profissionalização nos internos gerais, especialização nos internos de especialidade – passou-lhes a ser entregue uma remuneração. Esta era primitivamente paga directamente pelo Ministério da Saúde, mas em breve este alijou esse encargo para os hospitais. O objectivo é, pois, que eles não sejam obrigados a dispersar-se por outras actividades, médicas ou não médicas, não relacionadas com a sua aprendizagem específica, a qual deve constituir o seu desideratum no hospital onde estão colocados, e o desideratum do próprio hospital no que lhes diz respeito.
A primeira preocupação das Comissões de Internato, logo após a sua criação por Decreto-Lei, foi de estruturar os diversos internatos, de modo a que todo e qualquer interno no país recebesse uma preparação especializada considerada pelo menos como minimamente capaz, e que isso pudesse ser avaliado quer no final do internato quer durante este. Esta última avaliação, contínua, deve, na verdade, ser considerada como parte integrante da preparação, uma vez que é a única maneira de a corrigir atempadamente: chegar ao fim do internato e dizer a um interno que não aprendeu como devia é um pouco tardio… E é principalmente pouco eficaz.
Rapidamente os membros das comissões se aperceberam de que aquela avaliação, como manifestação duma preparação programada, evolutiva e consequente, e que se queria homogénea, igual ou pelo menos equivalente, em todo o país, estava na dependência da existência dum programa de formação para cada especialidade. Um programa mínimo de formação (que às vezes se vê chamado de “curriculum mínimo”), que fosse seguido em todo os serviços que tivessem internos daquela especialidade. Isto teria também por fim, por um lado, poder-se analisar objectivamente a capacidade do serviço para fornecer a especialização em causa (isto é, a chamada “idoneidade” do serviço), e, por outro, evitar que os internos estivessem totalmente dependentes da maior ou menor boa vontade dos membros do serviço, dum maior ou menor desejo ou capacidade de ensinar, de mais ou menos paciência para ajudar a fazer e a aprender. É claro que há-de haver sempre serviços melhores do que outros, mas deste modo procurou-se conseguir uma equalização de todos os serviços idóneos, quanto mais não fosse pelo nível mínimo necessário. Há objectivos concretos a cumprir, e isso é uma garantia de qualidade, pelo menos na quantidade… Relacionada com este último aspecto está a indicação, caracterizando a idoneidade atribuída, do número máximo de internos colocáveis em cada serviço, número que o ministério depois reduz a vagas, por critérios que lhe são próprios e estranhos à CNIM.
Os programas de formação de cada especialidade tinham obviamente de ser redigidos por especialistas na área, e foi assim que a Comissão Nacional dos Internatos Médicos recorreu aos Colégios de Especialidade, ou melhor, às suas direcções. Os programas foram sendo elaborados, e a comissão apenas procurou que todos eles, tanto quanto possível, seguissem um modelo semelhante, que permitisse a tal objectividade no que diz respeito à avaliação contínua daquilo que é ensinado, aprendido e praticado.
A figura do Orientador de Formação (1992), tão ridicularizada no início, provou ser uma boa aposta, e destina-se sobretudo a actuar mais directa e precocemente na correcção de quaisquer dificuldades que o interno tenha ou sinta na sua preparação, contribuindo também, claro, para o avaliar. O Director de Serviço é o responsável pela formação especializada do interno complementar, e deve velar para que ele se prepare adequadamente, seguindo como orientação o programa do respectivo internato. E é ele também o responsável final pelas classificações parcelares atribuídas a cada interno. O Director de Internato coordena os vários internatos no hospital e assegura o cumprimento dos respectivos programas.
As classificações parcelares são apenas um aspecto da avaliação contínua, a qual, como atrás se diz, deve ser considerada como parte integrante da formação, traduzindo realmente o que o interno aprendeu e fez durante todo o internato, isto é, os seus conhecimentos e desempenho.
As Comissões de Internato sempre consideraram a existência dum exame final de internato em complemento da avaliação contínua de conhecimentos e de desempenho, e sempre assim se manifestaram. Não fazia era sentido haver dois exames: o do hospital, ou do Ministério da Saúde, que na verdade é o responsável pela formação pós-graduada, e que até a paga, e o da Ordem dos Médicos. A imposição teimosa de haver dois exames tinha por base a asserção “o meu exame é melhor que o teu”, e por isso os internos eram obrigados a fazer os dois (um para ser especialista pelas Carreiras Médicas, ou Assistente Hospitalar, outro para ser especialista pela Ordem dos Médicos). Não tinha qualquer cabimento, tanto mais que, face à CEE, eram ambos equivalentes. Depois de longas negociações com a direcção da Ordem dos Médicos, e sendo dela Presidente o Dr. Santana Maia (que os mais novos porventura não saberão pertencer ao quadro do Centro Hospitalar de Coimbra, ter sido durante muitos anos Director do Serviço de Medicina Interna do nosso Hospital e ocupado o lugar de Presidente do Conselho de Gerência, agora de Administração, do C.H.C.), chegou-se finalmente, em 1994, à titulação única, por que todos ansiavam.
Encerrou-se nessa altura um ciclo, 12 anos depois, terminando-se um trabalho iniciado com a regulamentação dos Internatos Médicos e a criação dos respectivos Órgãos de Internato. Havia-se começado por estabelecer balizas objectivas para as matérias a aprender, as atitudes a adquirir e os actos técnicos a praticar em cada processo de formação especializada, definindo conjuntamente o tempo de duração deste e os locais idóneos para ser ministrado. Realçou-se depois a importância da avaliação contínua e surgiram os orientadores de formação, sendo nessa altura a preocupação-chave tornar a formação o mais eficaz possível, com feedback a cada momento. Finalmente, após uma formação criteriosa, entendeu-se dever haver um exame final, como corolário de toda essa preparação, permitindo classificar mais precisamente o interno mas, principalmente, contribuindo para assegurar que ele está em condições de ser considerado especialista.
O que nos pode encher de satisfação, como portugueses, é que somos o único país com os internatos médicos estruturados dentro dos parâmetros apresentados. Mas satisfação porquê? Porque o órgão máximo da CEE nestas matérias, o Advisory Committee for Medical Training, ainda está na fase de recomendar que os internos sejam sempre pagos durante a sua aprendizagem, que haja programas de formação definidos, que sejam acompanhados por orientadores de formação e que os locais de internato sejam escolhidos consoante a sua idoneidade para os ministrar… Nisto, pelo menos, vamos bem à frente!
Ao fim e ao cabo, e ao contrário do que é habitual no nosso país, estamos, nesta matéria, diante duma obra terminada, construída com princípio, meio e fim. É claro que nada está definitivamente feito, é sempre possível modificar um edifício. Tentativas pode haver de melhorar o que existe, como por exemplo a experiência ora iniciada em Coimbra de encurtar o internato geral, iniciando-se a fase de profissionalização ainda durante o curso médico. Mas o que agora ressalta é uma outra característica deste povo à beira-mar plantado, e que aquela minha amiga holandesa, por muito perspicaz que seja, não teve tempo para perceber: é o dizer mal das poucas obras terminadas que por cá vai havendo, é o não fazer mas também não deixar fazer, é o destruir o que logra ser feito. Não descansar enquanto não se destrói tudo o que está bem, é outra pecha nossa. Quando há algo organizado e a funcionar, que até os países do norte por acaso ainda não conseguiram, embora para lá caminhem, há que intrigar, atacar, minar, desorganizar. Pois é a isso que se está neste momento a assistir, contra a Regulamentação dos Internatos Médicos e as Comissões de Internato.
Num meio predominantemente desorganizado e a viver de expedientes, sem que se queira ir ao âmago das questões, a organização funciona frequentemente como um corpo estranho que até parece indesejável. Nessas condições a tendência entre nós parece ser, infelizmente, a de nivelar pela desorganização, ou, pelo menos, pela indefinição. E, apesar de tudo, isso pode compreender-se, pois para muitos dos incapazes a desordem é que é boa, na confusão é que conseguem o que doutro modo lhes estaria, para bem de todos, vedado.