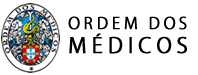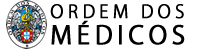Autor: José Manuel Jara – Médico Psiquiatra

1 – O que diz e não diz o Manifesto inaugural do “movimento cívico para a despenalização da morte assistida”
A problemática da eutanásia, suscitada pela apresentação de uma petição na Assembleia da República e, agora, de projetos de lei para a sua institucionalização em Portugal, é motivo de debates, de opiniões acaloradas, numa controvertida polémica de prós e contras. O processo iniciou-se com um Manifesto datado de Fevereiro de 2016.
No seu “Manifesto”, os proponentes proclamam a eutanásia, denominada “morte assistida”, como o “direito do doente que sofre e a quem não resta outra alternativa, por ele tida como aceitável ou digna, para pôr termo ao seu sofrimento”. E completam de seguida esta ideia afirmando que “é um último recurso, uma última liberdade, um último pedido que não se pode recusar a quem se sabe estar condenado”. Referem depois que “a morte assistida não entra em conflito nem exclui o acesso aos cuidados paliativos” e “que os cuidados paliativos não eliminam por completo o sofrimento em todos os doentes nem impedem por inteiro a sua degradação física e psicológica”.
Os autores do Manifesto reconhecem que no nosso país há já garantias legais para a “autodeterminação da pessoa doente” como o “consentimento informado, o direito de aceitação e recusa de tratamento, a condenação da obstinação terapêutica e as diretivas antecipadas de vontade. No entanto, no seu entender, haveria que “avançar mais um passo, em direção à despenalização e regulamentação da Morte Assistida.”
Outro argumento utilizado é o de que obviamente “a despenalização da Morte Assistida não a torna obrigatória para ninguém, apenas a disponibiliza como uma escolha legítima.”
Os subscritores do Manifesto entendem que a Constituição da República Portuguesa define a “vida como direito inviolável, mas não como dever irrenunciável”. Para os autores do Manifesto, se “ o direito à vida”, que “faz parte do património ético da civilização humana e, como tal, está consagrado nas leis da República Portuguesa,” “o direito a morrer em paz e de acordo os critérios de dignidade que cada um construiu ao longo da vida, também tem de o ser.”
Esta longa citação do texto fundador do movimento pela legalização da eutanásia em Portugal ficaria incompleta sem mencionar o ingrediente ideológico manifesto, o de que “Um Estado laico deve libertar a lei de normas alicerçadas em fundamentos confessionais”.
Toda a argumentação dos defensores da eutanásia e do suicídio assistido é baseada na repetição em vários tons, com maior ou menor ênfase, destas posturas como evidências incontestáveis. Os opositores da dita “morte assistida” que, em verdade, é uma morte executada a pedido do doente, seriam “conservadores”, intolerantes, repressivos, menos respeitadores da liberdade, defensores de uma medicina paternalista.
Mas, desde logo, há que repor algumas verdades. A grande maioria dos Estados do mundo, igualmente laicos, não aplicam a eutanásia. Não é, pois, essa a questão. Depois, contrariamente ao pretenso vanguardismo inovador dos proponentes da eutanásia e do suicídio assistido, há que lembrar que estas ideias são velhas de pelo menos um século. Por exemplo, em Inglaterra, houve uma iniciativa legislativa para a eutanásia recusada em 1935 e a última tentativa no Reino Unido foi rejeitada em Setembro de 2016. Era moda no período entre as duas grandes guerras em alguns países da Europa, numa base ideológica diferente da atual, mais preocupada com a eugenia e a demografia. A eutanásia involuntária nazi também não deve ser apagada da memória, por muito que alguns se sintam incomodados. A conotação tenebrosa da palavra “eutanásia” vem daí…
O Manifesto apresenta algumas imprecisões pouco dignas para um tema tão carente de rigor. Os seus autores querem estabelecer uma simetria entre “o direito à vida” e “o direito a morrer”, mas nada consta na Constituição sobre esse segundo “direito”, contrário ao primeiro. Que seria de uma Constituição que se contradissesse de modo tão flagrante? E como é que uma lei geral pode contrariar a Constituição, ditando não o direito a morrer, que seria um absurdo, mas “o direito a ser morto”, segundo uma lei da República? Considerar o viver “não como dever irrenunciável” é uma frase algo obscura que o leitor distraído poderá não entender. Quer dizer que é renunciável…Isto é, que uma pessoa se pode matar, renunciar à vida. Mas isso não está vertido em lei, nem pode estar. Seria uma lei a estabelecer o suicídio como um direito positivo legítimo. Como muito bem se comenta em nota de rodapé da Constituição anotada por Jorge Miranda e Rui Medeiros: «Daí a ideia de que, apesar de não poder extrair-se da inviolabilidade da vida um dever de viver por parte do titular do direito, não é também possível retirar do direito à vida, na sua articulação com autonomia individual, um verdadeiro direito ao suicídio e, muito menos, um direito à colaboração imune de terceiros na consumação do suicídio.» (Constituição da República Portuguesa anotada, Tomo I, Coimbra Ed. 2005, p. 260)
A terminologia suave utilizada pelos promotores da eutanásia, “morte assistida” ou “morte antecipada”, é expressão de uma certa má-fé, visa dissimular a verdade para o grande público. O que se pretende descriminalizar é o homicídio a pedido da vítima (artigo 134º do Código Penal) e o incitamento e ajuda ao suicídio (artigo 135º do Código Penal), isto é, a morte executada a pedido. A ideia é descriminalizar, segundo certos preceitos regulamentados em projeto de lei, não para todas as circunstâncias. Mas fica também aqui uma nota de interesse: quantos casos de ofensa a estes artigos foram julgados em tribunal? Sendo que nenhum, a despenalização seria uma verdadeira inauguração do procedimento por via legal, “assistida”, como se diz, e promovida por uma nova lei da República.
A assistência na morte, melhor, no morrer, segundo as leis da medicina e da prestação adequada de cuidados de saúde, incluindo os paliativos, minorando o sofrimento, sem prolongar obstinadamente a vida, quando a morte natural deve acontecer, é, de verdade, uma “morte assistida”. A execução intencional da morte a pedido, é a execução da morte de um doente que se quer suicidar. É o patrocínio do suicídio como ajuda ou como execução direta. Não se enquadra nos códigos da medicina, não pertence à medicina.
A questão de base é que a introdução de uma lei sobre esta matéria num país em que o processo não tem antecedentes judiciais, nem corresponde a uma necessidade palpável da sociedade, nem aos costumes, e parece surgir como um artefacto mediático de uma causa fraturante, de fundamento doutrinário, partidarizada e sobrepolitizada por via parlamentar. É fruto de uma cópia de modelos com outro historial, não isento de incidentes muito preocupantes (que não cabe aqui analisar), como o da Bélgica e da Holanda. Os fundamentalismos não se cingem à esfera religiosa, podem ter outros alicerces, como é o caso.
2 – Apreciação sumária do Relatório da Comissão sobre a Petição do Direito a Morrer com Dignidade
O Manifesto aqui analisado é o fundamento, ipsis verbis, da Petição nº 103/XIII/1ª, «Direito a Morrer com Dignidade», que foi entregue na Assembleia da República em 26 de Abril de 2016. A sede para análise da petição veio a ter curso essencialmente na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, pois a matéria que versa está muito mais inserida no direito do que na saúde.
As questões centrais da petição para a apologia da eutanásia são consideradas a valorização da autonomia e da dignidade do cidadão, para a escolha da morte. Que é considerada digna se for escolhida como morte decretada pelo próprio e cumprida pelas regras da lei da “morte assistida”. A grande dificuldade dos peticionistas e dos arguentes favoráveis é partir do princípio da absolutização da autonomia da pessoa do doente para impor, por sua vontade e pela força da lei, uma ação ditada para o matar, como se fosse um “ato médico”. Não é o princípio da autonomia, nem a liberdade do próprio, é a autonomia exorbitante, de um pedido de ser morto legalmente, matéria de conflito ante direitos fundamentais que são o alicerce constitucional. Os encarniçados defensores da solução terminal aparecem ungidos por uma misericórdia laica, como se não houvesse formas de atenuar o sofrimento sem a medida extrema e crua de uma auto-condenação à morte, vigiada pelo Estado.
A questão da dignidade avaliada pelo próprio, tanto quanto à pessoa, como em relação ao tipo de morte, é tautológica. Baseia-se na ideia de que é digna porque é digna, porque é julgada “digna”. O equívoco pressuposto é o de que outras formas de morrer seriam indignas, e as pessoas menos dignas. Toda a argumentação de vários e destacados intervenientes, nas consultas feitas pela Comissão, revestem um caráter opinativo e resultam num texto de Relatório redigido com base em fragmentos de discurso direto. Não há uma demonstração com princípio, meio e fim, que configure uma verdade acessível de modo claro, para um leitor medianamente culto e interessado no assunto. A atribuição de valor ao discurso direto alicerça-se no argumento de autoridade referenciada à personalidade do interveniente. A magna questão da constitucionalidade do projeto da morte a pedido é apresentada num sumaríssimo colóquio de contradições formuladas a meia voz. A complexidade do tema exigiria outro nível na fundamentação da exposição no Relatório da Comissão.
E se o Relatório apresenta um certo enviesamento favorável à Petição, tal facto deve-se provavelmente a ter sido redigido por um dos seus principais proponentes. E não parece muito curial que tenha sido tomada essa opção.
3 – Análise do discurso apologético dos líderes do movimento
A ideologia que fundamenta o caráter necessário, imperioso e urgente da inovação da legalização da morte a pedido não se baseia numa argumentação coerente entre os diversos domínios abrangidos, antropológico, ético, jurídico, médico, assistencial e social. Os apologistas da eutanásia servem-se de um discurso formulado de modo categórico, no pressuposto da evidência natural da correção do que propõem.
Parece-nos, por vezes, que os líderes empenhados nesta causa entendem-na como o cume, a abóbada do Estado de Direito, celebrando a morte como um sacrifício salvífico. Não é pois de estranhar que no Projeto de Lei do Bloco de Esquerda se remate o edifício com a lei do direito à morte, através dos ofícios de uma Comissão Interdisciplinar com sete “personalidades” a eleger pela Assembleia da República e outras duas pelos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, com um secretariado em serviço permanente, verdadeira burocratização da thánatos de lei.
Ouçamos primeiro a voz de destacados promotores desta iniciativa legislativa. Em 3 de Novembro de 2016, no jornal Público, o autor do Relatório da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, José Manuel Pureza (JMP), líder do movimento, afirma que “um dos citérios da legislação terá de passar pela definição do que é terminalidade e do que é sofrimento insuportável”. Digamos, desde já, que o projeto entretanto elaborado deixa este términus na vaga ideia de antecipação da morte, sem prazo definido para o fim e, quanto ao sofrimento, define-o como não suportável pelo reiterado e insistente pedido do candidato e pelo ajuizar subjetivo dos médicos com função de legistas. Na mesma entrevista, JMP diz que que no “projeto, sendo o suicídio assistido e a eutanásia sempre efetuados por médicos ou sob a sua orientação e supervisão, estes sejam considerados atos médicos”. Não passa a ser um “ato médico”, o que for “considerado” ato médico para efeitos de legitimação de um procedimento. A questão, desde a raiz, é que a imposição à medicina de uma prática que lhe é estranha, instrumentalizando-a, é apenas uma via para a tentativa de legalização do procedimento. A verdade é outra. Uma prática pode ser exercida por médicos, pela anuência a uma lei, sem que configure um ato da medicina, um ato médico. O médico tem, em contrapartida à autonomia conferida ao doente, a autonomia que lhe conferem os princípios da medicina e o seu código deontológico. É ainda JMP que contradita no mesmo jornal “os que olham o direito à vida como um «super-direito» que subalterniza todos os outros”…
Ainda José Manuel Pureza, agora numa entrevista ao jornal Expresso de 21/01/2017, responde à pergunta sobre a antecipação das batalhas legais que o aguardam:
“ Estamos preparados para uma batalha argumentativa. Mas a Constituição não contém qualquer regra que impeça uma lei que regula esta matéria. Por uma razão simples: o Estado de direito não tutela a liberdade das pessoas contra si próprias, salvo em casos excecionais. E este é um caso em que a conformação da pessoa com o seu propósito de vida deve ser garantido. O legislador tem a liberdade e o dever de regular sobre esta matéria”.
A citação completa é muito ilustrativa da pouca maturidade com que é abordada a questão. O entrevistado esqueceu-se de dizer “penalmente” quando afirma que o Estado não tutela a liberdade das pessoas contra si próprias. Será que o Estado só procede penalmente? A prevenção do suicídio não é uma importante área na promoção da saúde mental? Outra falha flagrante, por omissão, é a que resulta de que nesta “matéria” não se trata da “liberdade das pessoas contra si próprias”, mas da ação protegida pelo Estado para que terceiros procedam contra as pessoas a seu pedido e com o fim de pôr termo à vida. A par destas imprecisões legais, JMP formula frases caritativas de sentido vago, confluente com um senso comum pouco atento à mensagem: “ A eutanásia é escolher a vida que temos quando estamos a morrer”.
Neste discurso há um esforço de argumentação, embora redundante e insuficiente. Outro é o tipo de discurso baseado em críticas pouco recomendáveis sobre “desonestidade intelectual” e “fanatismo”, atiradas contra os adversários (J. Semedo-Expresso, 6/02/2018). Já em 18 de Fevereiro de 2016, na Revista Visão, pouco tempo após o lançamento do Manifesto, João Semedo, um dos autores do projeto do BE, criticara alguns dos que se opõem à iniciativa com os atributos de “ politiquice e cretinice” e a finalidade de “intoxicar a discussão com argumentos terroristas e imbecis” (SIC). A oposição à despenalização por si almejada seria a “prepotência de uns contra a liberdade dos outros”. Numa tentativa de justificação acutilante, diz este líder do movimento na revista acima citada:
“ Em Portugal, muitos morrem com péssimas condições, numa agonia carregada de sofrimento inútil. Este é o problema, é isto que interessa discutir e solucionar”.
Transparece aqui, com nítida clareza, outro alcance pretendido com a eutanásia em Portugal, já não apenas para satisfazer a vontade de alguns. A morte de “muitos” (?) seria um problema solucionado pela eutanásia… E, no entanto, sabe-se que mesmo nos países pioneiros, a percentagem dessa escolha é relativamente baixa, à volta de 3% na Holanda, “encurtando em média a vida expectável em cerca de três semanas”. (A Nova Medicina, João Lobo Antunes, FEMS- 2012, p. 60)
Cumpre citar aqui um autor com credenciais, Miguel Oliveira da Silva, que diz, num texto muito recomendável, o seguinte: «45- Muitos pedidos de eutanásia resultam de uma má medicina: terapêutica fútil, cuidados paliativos proselitistas ou de qualidade questionável, medicação inadequada no cuidado e apaziguamento da dor física, psíquica, existencial, espiritual» (capítulo – Final da Vida, p. 191 – Eutanásia, Suicídio Ajudado, Barrigas de Aluguer, Editorial Caminho, 2017)
O discurso jurídico que subjaz aos projetos de “morte assistida” tem outra espessura e densidade, metáforas apropriadas para o caracterizar. E é de assinalar que este processo para a “despenalização” da morte a pedido, em circunstâncias de doença grave (terminal?) e com muito sofrimento é oriundo do direito, acima de tudo de juristas penalistas, como é o caso de Inês Godinho. Sabemos que é coautora do projeto do BE, com uma relevância destacada, pois estudou o tema aprofundadamente e produziu uma tese de doutoramento sobre a matéria. Na altura do lançamento do Manifesto, em 2016, participou diretamente em debates de promoção das ideias do movimento a favor da chamada “morte assistida.” O discurso jurídico da autora, nesta questão, centra-se na contradição que se reporta à distinção entre o que chama “eutanásia indireta” (em que a morte mais precoce pode ser um efeito indireto, nunca intencional, de uma terapêutica mais incisiva sobre a dor, medicamente aceite nas leges artis, também chamado “duplo efeito”) e a eutanásia ativa direta, em que o dolo é a morte deliberada, intencional (a pedido). Para Inês Godinho, a “diferença entre ambas as formas” é bastante “diminuta”. A dificuldade jurídica detetada resulta da negação da possibilidade do “homicídio como ato médico legítimo”, condição para legalizar a eutanásia e o suicídio assistido. A aprovação de uma lei para a eutanásia ativa direta seria, por via prática, a superação dessa interdição, coagindo a medicina a integrar tacitamente a morte intencional do doente no seu arsenal.
Na sua argumentação, exposta num artigo cujo título é “Autodeterminação e morte assistida na relação médio-paciente” (in O Sentido do Bem Jurídico Vida Humana, p 111 a 129- Coimbra Editora, 2013) a autora irá basear na autonomia do paciente, como “um poder de direção em relação ao médico”, a possibilidade de este matar o doente para lhe “minorar a dor”. O contorno que faz dos preceitos dos artigos 24º e 25º da Constituição, através da evocação de dois artigos do Código Penal, o 34º e 36ª, como um “direito de necessidade” ou de “conflito de deveres”, para propiciar a morte por terceiros é insólita. Diz, no remate final do seu artigo: “Primordial na relação médico-paciente é garantir o direito de autodeterminação do paciente (…), enquanto direito de liberdade – e assim ser prestado um valioso contributo para o respeito da dignidade humana”. Está consumada a assimetria no ato médico, visto como um jogo de poderes. O despique final é a eutanásia.
Para concluir esta análise deste discurso jurídico parece-nos saudável fazer um extrato de um artigo do mesmo livro em que é feita a análise, por um professor de direito alemão, sobre “A reflexão Binding-Hoche”, obra de jurista e psiquiatra, que nos anos vinte do século passado defenderam a eutanásia. Kay H. Schumann (Universidade de Bonn) conclui a sua análise com esta afirmação que deve ser bem meditada:
«O trabalho de Binding, que constitui um dos mais radicais e controversos sobre esta questão até hoje publicados na literatura jurídico-penal, evidencia que é apenas necessário um pequeno passo para tornar permitido por lei o pôr termo à vida, sem que, aparentemente, se saia do patamar da conformidade jurídica. Contudo, contra a permissão do homicídio pelo direito interpõe-se a própria função do direito, sem que, contrariamente ao defendido por Binding, seja necessário o recurso a pontos de vista éticos relativos à proteção da vida.» (O sentido do Bem Jurídico Vida Humana, p.55 e 56)
Alguns árduos combatentes pela eutanásia dos outros, aditam como argumento da sua causa a comparação do procedimento da morte por encomenda com a interrupção voluntária da gravidez (IVG). Mas sonegam o que é óbvio, a IVG contempla, dentro de limites objetivos bem definidos no Código Penal, a autonomia da mulher e a sua autodeterminação, no âmbito do artigo nº 1 da Constituição e do artigo 26º (“desenvolvimento da personalidade”), e preenche evidentes necessidades de proteção da vida e da saúde da mulher de modo igualitário, contra práticas abortivas clandestinas gravemente lesivas da integridade da vida da pessoa (artigo 25º da CRP). Sem qualquer dúvida, aqui houve obstáculos de tipo confessional para a sua legalização que não se coadunavam com os princípios laicos do Estado de Direito.
4 – Opiniões sobre a morte e a medicina
A atitude mais liberal, mas pouco comprometida é a de Pacheco Pereira. No Programa Quadratura do Circulo de 2/02/2017, defende que a “política não cobre tudo”. Diz: «Não há nada de mais individual do que a relação que cada um tem da sua morte, um direito inalienável, para além de politico, que eu seja senhor, solitário…quem quiser suicidar-se que se suicide, que quem queira uma morte assistida que a tenha.» Consequente com este espírito não considera que o Estado deva intervir, não acha também que seja um ato médico. Embora seja subscritor do Manifesto tem nestas declarações uma posição que se distancia claramente do teor dos projetos de institucionalização da “morte assistida.”
Esta postura é partilhada por algumas personalidades, com formulações distintas. Proença de Carvalho, no DN de 2/02/2017, intitula o artigo sobre o tema “O último ato”. O seu último ato: “Sim, porque a nossa condição tem um princípio e um fim.” Na sua crónica considera que “felizmente a vida tem vindo a prolongar-se em consequência dos extraordinários avanços da medicina”, e acrescenta que “esse prolongamento trouxe também resultados perversos, ao violentar a natureza, impondo por vezes uma sobrevivência artificial”, com “sofrimento inútil, adiando um desfecho que atenta contra da dignidade da morte”. Esta ideia inscreve-se muito mais na autonomia do doente para suspender tratamentos que considera que lhe são adversos e, do lado da medicina, o que se afigura deontologicamente correto, sustendo procedimentos de obstinação terapêutica (distanásia).
O maestro Miguel Graça Moura (MGM) sentiu necessidade de se pronunciar sobre a questão no artigo, “Direito à vida com direito à morte”, editado no jornal Expresso, em 10/06/2016. Com grande desassombro diz que “ é da mais elementar justiça que tenhamos o indiscutível poder de fazer com a vida que nos calhou o que nos parecer melhor, incluindo o direito a lhe pôr termo (…) Para MGM “o direito à morte” é tão “válido e inalienável como o direito à vida e o direito à liberdade, e a questão já só se resume a dar melhores condições para o acesso ao suicídio assistido”. Acrescenta uma ideia muito própria de direito quase universal ao suicídio assistido, “que não tem nada que ver com qualquer estado e sofrimento ou doença terminal, mas sim com a apreciação legítima da vida própria e da consequente avaliação da vontade de continuar ou não a viver”, excluindo apenas as pessoas com qualquer perturbação mental. E formula o receio de que se venha a chegar a este extremo pelas piores razões, “por os velhos se terem tornado economicamente insustentáveis”. A par de uma visão liberal suicidófila muito própria, MGM revela preocupações sociais por divisar no horizonte o renascer de ideias de eugenia economicista malthusiana.
Façamos um pequeno parentese, neste percurso sobre opiniões de cidadãos reconhecidos socialmente. No seu pequeno ensaio sobre “O absurdo e o suicídio”, Albert Camus escreve o seguinte:
«Só há um problema filosófico verdadeiramente sério: é o suicídio. Julgar que a vida vale ou não vale a pena ser vivida, é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem três dimensões, se o espírito tem nove ou doze categorias, vem depois.» (Le Mythe de Sisyphe, ed. Gallimard, 1942, p. 15)
Um dos problemas que se situa nesta questão é a sua evidente contaminação com problemas ideológicos diversos, de diferentes confissões, religiosas e não religiosas, de filosofias variadas, de crenças e de opiniões muito pessoais, influenciadas por fatores socioeconómicos e culturais, pelo temperamento, pela biografia e pela predisposição e vulnerabilidade a doenças, incluindo as psiquiátricas. A fronteira entre o normal e o patológico é móvel. No fim da vida, em situação de fraqueza orgânica por doença física grave, a mente também está em geral afetada, fragilizada, tanto reactivamente, como diretamente por afeção neuropsiquiátrica. Os problemas assistenciais colocam-se no plano médico terapêutico, no plano de reabilitação, nos cuidados de enfermagem e no apoio psicológico, no plano humano dos afetos e apoios, familiares e outros, nos cuidados mais especificamente paliativos. Este contexto não deve ser ignorado como conjunto de circunstâncias complexas que condicionam o querer e a autonomia da pessoa. A visão hipocrática da medicina é holística, não se foca só na doença, tem em conta a dolência, o todo da pessoa e as condições externas, materiais, psicológicas, cognitivas e afetivas, microssociais, sociais e espirituais (socioculturais). Por isso, o caminho certo na avaliação de alguém em grande sofrimento não é abrir uma via verde para o chamado “suicídio lúcido”, mas confortar e melhorar ainda se possível as circunstâncias da vida, sem excessos terapêuticos, com a moderação e a adequação da arte da medicina, respeitando a pessoa na sua essência. O pedido de antecipação da morte não deve ser interpretado à letra. Pode ser um gesto apelativo, um pedido de atenção, a manifestação de uma carência, a expressão de um tratamento insuficiente da dor ou de um sofrido isolamento. E quantas vezes, justamente, o primeiro indício direto de um estado de abaixamento anímico de uma depressão, que não se reconhece facilmente. Mas se de todo o sofrimento for extremo, sem possível recuperação, há procedimentos terapêuticos da medicina que atenuam as dores e modificam o estado de consciência, sem necessidade do exercício gélido da morte executada.
A socióloga Maria Filomena Mónica (MFM) escreveu um livro sobre morte com o título “A Morte” (FEMS, 2011). Sendo uma estudiosa do tema e tendo vivenciado situações pessoais que a sensibilizam para a questão da morte, é interessante extrair e analisar algumas das ideias por si formuladas com uma realista sinceridade. Diz no seu ensaio o seguinte:
«Atualmente há 200 mil pessoas com mais de 85 anos, um número quatro vezes mais elevado do que há 40 anos. Fomos educados a pensar que, desde que descontássemos para a Segurança Social, o Estado trataria de nós até ao túmulo. Ora isto deixou de ser verdade. (…) “Por outro lado, o Estado não dispõe de verbas ou de vontade para manter uma rede decente de lares. A situação não podia ser pior.” (p. 46)
A realidade do envelhecimento com pouca assistência social, em condições de pobreza, não a atinge diretamente, mas fica o seu diagnóstico como uma preocupação demográfica. O alongamento da vida torna mais aguda a necessidade da morte não apenas no plano individual, mas também num plano social. No entanto, nada se pode concluir sobre a opinião da autora sobre o que fazer para que a sociedade resolva de modo humano e saudável o problema do envelhecimento da população. A contradição terá de ser mediada não como uma sombria constatação fatalista, consequência do progresso da medicina, mas através de medidas socioeconómicas para o crescimento demográfico e para a melhoria das condições de vida em todas as fachas etárias, para uma sociedade de justiça e igualdade. O paradoxo resulta do facto de o desenvolvimento científico-técnico não se refletir como devia num progresso social possível e desejável para todos. Não tem de ser assim, como é.
Esta autora merece-nos uma atenção especial pois pode ser considerada entre nós uma pioneira no movimento da eutanásia. Assinala que (em 2011), “ao contrário de países com uma História semelhante á nossa – Espanha, França e Itália”, em Portugal não existia uma “Associação para o Direito a Morrer com Dignidade”, estranhando que os setores laicos do país andassem tão arredados do tema. E diz com toda a clareza: “ Faz parte da liberdade individual escolher a morte. Tendo o estado legislado sobre a matéria, compete-lhe rever o que está mal. Só assim aqueles que, como eu, querem morrer em paz o poderão fazer” (p. 39). Extrai-se desta vontade própria a inferência de que na grande maioria de países de todo o mundo não se consegue, ninguém consegue, morrer em paz, por falta de eutanásia. E porquê? Talvez seja pelo seguinte: “Além da perspetiva do aniquilamento me atemorizar, o facto de não conseguir marcar o dia da ocorrência angustia-me”. (p. 55) E, certamente, uma das grandes vantagens da eutanásia é ter uma hora marcada… São com certeza, consequências da “transferência do poder da esfera dos médicos para a do doente”, apenas “não aplicável às demências”. (p. 40)
Seis anos mais tarde, num artigo da sua autoria no jornal Público (30/01/2017) MFM prossegue o seu filosofar especulativo sobre o tema, tecendo considerações como esta: “ Enquanto, no passado, havia uma linha que não deveria ser ultrapassada – «Não matarás» – podemos estar a chegar a uma situação em que, do ponto de vista moral, já não se sabe onde reside o tolerável e o intolerável”. A mesma ideia exprime-a, dizendo que “ a perceção da morte sofrerá uma mudança” a verificar-se a aprovação da eutanásia e do suicídio assistido.
São linhas de raciocínio muito diferentes da desdramatização dos promotores dos projetos de lei, contentes por pensarem criar um serviço público (ou privado concessionado) de morte a pedido, para, com elegância, se ter acesso a mais um direito, o direito a morrer subitamente. Com a bênção de uma boa lei, uma “boa morte” executada a pedido, em versão portuguesa, sem necessidade de tradução literal da palavra grega, ainda não passada à prática pelos retardados helenos.
O professor de filosofia Pedro Galvão merece uma atenção especial pois é citado no preâmbulo do projeto de lei do partido PAN (Pessoas, Animais, Natureza). De salientar que este partido apresenta uma exposição de motivos do seu projeto onde verte toda a sapiência extraída do relatório da petição, com alguns aditamentos. E, diferentemente do projeto do Bloco de Esquerda, o médico psiquiatra é chamado a testar pericialmente toda a pessoa candidata obrigatoriamente, tal como acontece na lei da Colômbia. O que nos diz Pedro Galvão? Diz que “ A morte é um mal comparativo”. E adiante acrescenta este autor: “Não é que estar morto seja intrinsecamente mau (ou bom): ”. Em que ficamos? Façamos uma breve pausa para respirar, sinal de que se está vivo. Como será “estar morto”? Prossegue metodicamente Pedro Galvão, com um aprofundado sentido didático:“ a morte, quando é um mal para quem morre, é má comparação com aquilo que exclui (um futuro com valor) ”. Que valor será? Explica o professor: “ Acontece que, por vezes, a alternativa à morte não é um futuro valioso”. Mesmo assim, um futuro que não é valioso não será melhor que o “estar morto” da primeira proposição? O parágrafo deste autor, citado no preâmbulo do PAN termina assim, já podemos descansar: “ Aquilo que a morte exclui nem sempre é globalmente bom” (página -3 da exposição de motivos; p. 51 do livro Ética com razões, FEMS-2015). Deixámos os comentários nas entrelinhas, sem aspas.
Estamos no termo deste levantamento sobre o pensamento de pessoas relevantes, interessadas por estas matérias, agora tão em destaque pela proximidade do debate parlamentar de leis sobre a morte. A amostra é parcial, mas serve para tipificar variações sobre o mesmo tema.
No texto doente não. (https//raquelcardeiravarela.wordpress.com, 2/02/2017), a historiadora Raquel Varela vai dar o golpe de misericórdia a quaisquer veleidades do corpo médico, com aquele rasgo de vivacidade intelectual a que nos habituou no seu discurso direto:
«A eutanásia não é uma “questão de consciência” para os médicos. É-o para os doentes. Comparado o sofrimento do médico que administra a substância com o sofrimento do doente que a toma é sintomático de uma sociedade que perdeu o norte em matéria de valores (…) E a grande doença do século XXI chama-se individualismo, e todas as pancadas daí derivadas (pânico, depressão, etc.) …
«Ver grande parte dos médicos ser contra a eutanásia por causa da sua consciência não é uma reação corporativa nem de consciência, é uma tremenda resposta individualista de quem tem poder. É como aqueles tipos que quando vêm alguém a sofrer entram em histerismo ou desmaiam. Ou fogem. Porque, algures numa parte escondida do inconsciente o seu sofrimento de ver alguém com dor é mais importante que a dor real do outro (…).»
Neste libelo veemente contra a não concordância da maioria dos médicos com a eutanásia Raquel Varela tem a virtude de nos fazer um ensaio de psicanálise selvagem, evidenciando, que se fosse médica, teria provavelmente escolhido ser psiquiatra. E, como no Doente Imaginário de Molière, ficaria logo curada do seu mal-estar neurótico contra o corpo clínico e a medicina.
5 – Como o procedimento da eutanásia e do suicídio assistido contradiz princípios de liberdade, autonomia e dignidade
Os projetos de lei para concretizar a chamada “morte antecipada” ou “morte assistida”, eufemismos para tornar indolor, junto da opinião pública, a essência do que é: matar, proceder à execução da morte de um doente a seu pedido, através da administração intencional de uma substância tóxica em dose letal (mortal), injetada ou por via oral. Esta mesma via da semântica paradoxal suavizante, foi seguido pelas militantes da mesma causa no Partido Socialista, as deputadas Antónia Almeida Santos e Isabel Moreira, que fizeram aprovar uma Moção pró-eutanásia, em Março de 2017 com o seguinte título: «Eutanásia, um debate sobre a vida». É um duplipensar orwelliano…
Os projetos de lei sobre o tema pretendem introduzir regras de tramitação do procedimento, que constituem uma regulamentação da despenalização. A finalidade seria dificultar a execução da morte de uma pessoa que não se enquadrasse nos quesitos da nova lei.
Porque é que esta matéria levanta sérios problemas éticos e deontológicos?
Todo o procedimento se baseia na validação desde o início do crédito do “pedido” do doente. Esse crédito antecipado da iniciativa cria uma via que pode sugestionar e levar à manipulação da intenção do próprio por terceiros. O candidato não vive numa redoma de vidro, onde jaz o seu eu. A identificação da pessoa concreta como um sujeito cartesiano é desprovida de senso. O facto de surgir uma possibilidade de um procedimento que o leve diretamente à morte projetada, isto é, à concretização do suicídio, com a aura de uma lei, e uma promoção de um “serviço medicamente assistido”, sugestiona a procura do “serviço”, em situação de desespero e de grande fragilidade pessoal, como será o caso para a maioria dos candidatos. O quadro relacional e dialogal da vida da pessoa é subestimado, tanto ao nível familiar como institucional. Os projetos de lei facultam e induzem a antecipação do próprio processo, como claro incitamento. Quem informa o doente sobre diagnóstico, prognóstico e alternativas? Não o médico assistente, mas o que assume o cargo de responsável pela eutanásia.
O encaminhamento do processo, depois do pedido ser aceite, é seguido por médicos indigitados segundo o projeto de lei. Como a finalidade é, antecipadamente, a promessa da morte executada, verifica-se desde logo um viés predeterminado, uma tendência inevitável a reforçar a assumida “vontade” do doente. A atitude do médico não é assistir o doente, é verificar se preenche os quesitos da lei que permitem executar a morte. Mais ainda, os médicos integrados serão sempre escolhidos por serem partidários da eutanásia, mesmo que tenham de opor-se frontalmente ao Código Deontológico da Medicina (Regulamento nº707/2016 da Ordem dos Médicos, art.º 65, que proíbe o suicídio assistido e a eutanásia) e aos ditames da Declaração de Genebra da Associação Médica Mundial (2017), que estabelece como cláusula o “máximo respeito pela vida humana”. Este facto vai acentuar o desvio de todo o procedimento. Por outras palavras, a tramitação é, na sua essência, um formalismo destinado à salvaguarda de uma fachada de rigor e isenção. A ritualização do pedido reiterado, da insistência, é um pró-forma, num corredor para a meta final, em que ficará mal na sua dignidade o candidato que dê o dito por não dito. Isto é, o próprio procedimento é uma profecia que tende a concretizar-se como fatal.
Muito diferente é o procedimento médico perante alguém que formula ideias de suicídio. Sabe-se que as ideias de suicídio podem ou não vir a concretizar-se em ato. A realidade clínica de estados depressivos não é muitas vezes fácil de diagnosticar, mesmo por médicos especialistas. Sabe-se como o doente pode esconder o que lhe vai na mente e simular uma serenidade consciente, num estado de desespero depressivo. Todo o procedimento médico-psicológico visa reduzir o risco de passagem ao comportamento suicida. Mesmo quando o suicídio é executado ainda deixa uma margem de incerteza sobre o seu desfecho, coisa que não ocorre com a injeção letal, ou na ajuda ao suicídio, quando a toma do veneno é presenciada pelo agente. No procedimento da eutanásia, por muitos “filtros” que se interponham, sabe-se que são meros expedientes para confirmar o que desde início é o pressuposto e a finalidade do processo. O fim está no princípio, a morte a ser executada. A introdução de uma comissão alargada e multidisciplinar para certificar o exitus, antes ou após, é ditada por um esforço de credibilizar honorificamente um processo mortífero.
É de valia considerar que na doença melancólica ocorrem no doente estados de ideação culposa, com sobrevalorização de falhas insignificantes, de sentimentos de “estar a mais” e mesmo de ideias sobrevalorizadas de “indignidade”, até ao delírio. O que ocorre num grau muito intenso na doença depressiva pode manifestar-se de modo menos acentuado em reações depressivas de ajustamento, muito frequentes em doentes terminais. A avaliação pericial não tem condições para um exame clínico aprofundado e empático.
A impossibilidade em evitar erros de diagnóstico, prognóstico e abusos em questão de morte, a possível influência sobre a vontade da pessoa do doente, tanto diretamente como atmosfericamente, o alargamento das indicações pela “normalização”, tolerância e banalização, como vem acontecendo nos países “pioneiros”, ferem o princípio da precaução, que se baseia no evitar escolhas que envolvam opções de maiores riscos para eventuais e duvidosos benefícios. Estes factos são fundamento de rejeições sucessivas de projetos de lei, noutros países, como o Reino Unido e a França.
Outro aspeto que merece um reparo é a invocada questão de “dignidade”, na aceção de honra própria, presumida na conduta de suicídio praticado institucionalmente como uma auto-condenação à morte. Será que a pessoa sofredora de uma doença crónica e incurável, ao ver-se sujeita a um arremedo de perícia médico-legal de tipo forense, para apreciar se preenche as condições para ser eutanasiada, fica dignificada? E se a pessoa hesita, recua ou quer recuar, e não quer perder a face? É um processo moralmente doloroso, por muita “suavidade” com que os “médicos responsáveis” conduzam os trâmites da avaliação.
A pressa do procedimento, numa luta contra o tempo, é outro problema a examinar. Se os projetos de lei, como os já apresentados na Assembleia da República, não indicam a que proximidade o candidato está da morte natural, ocorre a perplexidade sobre quanto tempo se quer “antecipar”, através da execução da morte artificial. Em várias leis, a questão do tempo formula-se num prazo: Suicídio Assistido, em alguns Estados dos EUA, em “doença terminal, com grande sofrimento, a seis meses da morte provável”; na Colômbia, especifica-se “doença terminal”. O andamento do processo tem de ser rápido, como uma urgência, e também para não falhar. E como é que se pode, nessa pressa, dar tempo real para uma reflexão e ponderação, sem pressões e coações, ao candidato a algo definitivo e terminal?
Embora não tenha sido objeto de referências na comunicação social, cumpre aqui prestar uma informação relevante. No artigo 139º do Código Penal, “Propaganda do Suicídio”, estabelece-se que «Quem por qualquer modo, fizer propaganda ou publicidade de produto, objeto ou método preconizado, como meio para produzir a morte, de forma adequada a provocar o suicídio, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias.». Será que o Estado ignora esta regra de sanidade mental? Terá de ser aditada uma nova alínea de exceção, como nos artigos do código penal de incitamento e ajuda ao suicídio (art.º -135º) e de homicídio a pedido (art.º 134º)?
A contradição dos projetos de eutanásia no quadro da nossa Constituição e das nossas leis gerais ainda faz prova no artigo 150.º do Código Penal, sobre “Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos”. O seu conteúdo estabelece que não são consideradas “ofensa á integridade física” (proibida pelo artigo 25º da Constituição) as intervenções “levadas a cabo de acordo com as leges artis com intenção de prevenir, diagnosticar, debelar ou minorar doença, sofrimento, lesão ou fadiga corporal ou perturbação mental”. Será que matar o doente também cabe na legis? Ou os proponentes da eutanásia terão de propor alterar também este artigo do Código?
Presentemente a medicina tem recursos eficazes para tratar a dor e atenuar o sofrimento, para suavizar a morte. É valorizada e reconhecida legalmente a autonomia e a vontade do doente, no consentimento informado, na expressão do desejo de suspender terapêuticas ou de não as iniciar e nas diretivas antecipadas de vontade. O bom senso clínico e a medicina, enquanto ciência, técnica e arte da relação humana com o paciente, tem hoje soluções para o fim da vida, aceitando a morte natural como é seu dever. A absolutização da autonomia de alguns doentes para procedimentos desenquadrados da medicina e impostos à medicina, como a eutanásia, depara-se com demasiados obstáculos e contradições que tornam desaconselhável essa solução final.
6 – Epícrise sobre a medicina e o ato médico
Este terreno sensível, envolvendo a articulação de diferentes saberes, exige muita informação e reflexão. Durante o ano de 2017 foi feito um louvável esforço informativo, através dos debates promovidos pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em muitas cidades de todo o país. A proximidade do debate legislativo torna mais exigente a necessidade de esclarecimento. E é bom que as ideias sejam expostas com clareza. E nada melhor que um contraponto para ver à transparência o que está por trás deste esforço em desvirtuar a medicina com argumentos de autoridade e discursos sofísticos.
Um dos patronos jurídicos da eutanásia para Portugal, o Professor José de Faria Costa, faz várias tentativas, nos seus estudos sobre o “Ato Médico”, para integrar-lhe a eutanásia, como um grande avanço dos novos tempos. Num dos seus ensaios sobre o tema (Em redor da noção de ato médico, p.379-99, em As Novas Questões da Vida e da Morte em Direito Penal, Coimbra Editora, 2010) este jurista de pendor filosofante inicia o seu texto com uma visão de grande angular em que discorre sob o lema, “O ato médico pode ser praticado por qualquer pessoa”: “ Por outras palavras ainda: todos podemos e todos praticamos atos de cura, atos de cuidado. Se se quiser ir mais longe na legítima extensão conceitual poder-se-á afirmar, neste preciso sentido, que todos somos médicos. E porquê “médicos? (…) “Por isso, «curar o mal, atenuar ou suprimir o sofrimento, evitar a morte iminente, tais foram os objetivos que, desde as origens, o homem procurou com o «ato médico» (páginas 384 e 385) ”. Este recuo histórico quase à idade da pedra lascada serve-lhe para tomar fôlego e fundar nas origens os ditames para os dias de hoje. E prossegue assim: “ Chegados aqui urge perguntar verdadeiramente, hoje, na multiplicidade cultural e também científica que invade o nosso quotidiano, o que é que se deve entender por «ato médico». São só atos médicos os que se levam a cabo dentro do reino da chamada «medicina convencional» ou serão também «atos médicos» os que cabem no multifacetado e plural senhorio da também hoje já chamada «medicina não-convencional»? (página 388)
Façamos um parágrafo para serenar a razão e meditar sobre tão densa matéria tratada com tanta fundura pelo jurista. Prossegue assim: “ São «atos médicos» os atos praticados por médicos – aceitemo-lo com o sentido da determinação do específico segmento social a que se creditou o poder-dever de curar, – mas em que circunstâncias? Com que fins? Com que obrigações? Será ainda «ato médico» a conduta do médico que ajuda o seu paciente a deixar de viver?” (página 388) Note-se que o autor diz “deixar de viver”, mas quer dizer algo que não consegue escrever literalmente. Mais adiante fica tudo claro para qualquer entendedor: “ Ora esta alteração de paradigma das relações entre o médico e o agora doente faz com que o centro do «ato médico» como já se disse deixe de estar materialmente naquele que tem o «status de médico», mas antes definitivamente no próprio doente. A hegemonia que existiu durante milénios quando se pensava na relação entre o médico e o doente – então paciente – foi esfacelada em toda a sua plenitude. Em certo sentido é agora a pessoa que decide não o que é «ato médico», mas decide quando é que há ou pode haver «ato médico». (pág. 392) Vejam bem, “esfacelada”… E diz: “ Na verdade estamos muito longe do modelo hipocrático, relativamente às relações entre o médico e o doente”. (p.391). A ideia é destronar o próprio símbolo da medicina.
Paremos por aqui. Depois desta desembaraçada e leiga sapiência sobre a medicina, o autor destas linhas, fica a pensar o que seria o «ato jurídico» visto por prisma idêntico, salvas as diferenças intrínsecas de soberania. E que juízo fazer se os magistrados fossem definidos pelo «status» de um «específico segmento social», de tipo convencional …Passe a ironia, é questão muito séria. O irracionalismo campeia por aqui numa prosa que visa acima de tudo justificar a intromissão da eutanásia no «ato médico» a golpes de martelo. Para o credibilizar através da “personagem do médico”, como oficiante. E, por sinal, não é de estranhar que esta ideologia jurídica seja partilhada por Inês Godinho, uma das autoras do primeiro projeto de lei da “morte assistida” ou “antecipada”.
A questão em causa suscita problemas que estão no âmago da medicina. A relação médico – doente (e do cuidador em geral) baseia-se numa aliança. A aliança é assimétrica, entre um ser humano que padece, em sofrimento, e um profissional que detém um saber teórico e prático e o poder de decidir, para diagnosticar, curar, reabilitar ou minorar o sofrimento da pessoa doente. Esta assimetria natural comporta vários graus de autonomia e de interdependência. A superação do paternalismo médico decorre da maior informação e cultura das pessoas sobre a saúde e as doenças, e também da delimitação da autoridade médica, conferindo ao cidadão doente (ou utente de serviços de saúde) uma maior autonomia. Direito a informação e consentimento sobre tratamentos indicados medicamente. Direito a cessar tratamentos e a recusar, desde que em estado de o poder fazer. Cada ato terapêutico tem uma dupla confiança e uma dupla consciência, do médico e do doente. Os progressos contribuíram para enriquecer a aliança terapêutica indispensável para uma medicina eficiente.
Estas regras regem o Código de Deontologia Médica atual e inscrevem-se nos preceitos da Declaração de Genebra da Associação Médica Mundial. O problema é que há quem pretenda absolutizar de uma maneira totalmente inadequada e irrealista a autonomia do doente, como se a relação entre o médico e o doente fosse um jogo de poderes: subtrair “o poder” a um para o atribuir ao outro. Esta atitude falsamente igualitária não se coaduna com a medicina e prejudica a relação terapêutica. Alguns exprimem mesmo uma insensata rebeldia antimédica. O estímulo a uma autonomia ilimitada do doente, e mesmo a sua absolutização, podem levar a uma anulação da autoridade e da autonomia do médico (ou do cuidador), que passaria a estar sob o comando do paciente, mesmo para procedimentos fora da medicina e contra as leges artis. Muito sumariamente, é o que se passa com a tentativa de conduzir a medicina a ser instrumento da eutanásia, sem respeitar os seus cânones. Não é uma questão de opinião avulsa, de fulano ou sicrano, é uma questão ética e deontológica fundada num saber. Na pessoa do doente estão contidos os direitos do cidadão, mas nos profissionais de saúde e nos médicos também. Se um médico não se vincular á deontologia da profissão está a agir fora da medicina, não pratica um ato médico.
A definição do que é um “ato médico” não pode ser oriunda de uma jurisdição estranha à medicina. A definição dos limites da medicina não pode estar dependente de um pragmatismo utilitarista nivelador de valores, numa ótica pós-moderna impositiva. Esta argumentação advém do facto de ser este o cerne do princípio invocado pelos defensores da eutanásia. Não são “os doentes”. Falam em nome dos doentes, que todos, alguma vez viremos a ser. O discurso da medicina é para a defesa, não dos médicos, mas da medicina ao serviço do ser humano, desde o princípio ao fim da vida, para uma melhor saúde de cada um e de todos.
A problemática da eutanásia tem o seu historial, com várias etapas (Assisted Suicide- Kelvin Yuill- Palgrave Macmillan, 2013- The origins of the right to die movement- p. 60-82). A versão agora mais defendida gerou-se no fim dos anos 60 do século passado, quando algumas associações pró-eutanásia eugénica (Voluntary Euthanasia Society do Reino Unido-1935 e Euthanasia Society of America-1938), com preocupações económicas e sociais, se reconverteram num associativismo vocacionado para o “direito individual à morte”, ou a “morte assistida”. Na atual época histórica, o destaque desproporcionado desta causa não resulta, no essencial, da necessidade emergente de pessoas em sofrimento, mas de uma moda que instrumentaliza o direito de uma forma radicalizada, de uma ideologia individualista e não assistencialista.
Num ambiente em que se divisa já, de novo, a preocupação com a demografia, o envelhecimento da população e os gastos excessivos com a doença, em face da propalada restrição dos fundos da segurança social e dos défices financeiros, não se deve subestimar o renovar das finalidades eugénicas perversas e o eventual aproveitamento economicista destas medidas.
Lisboa, 4 De Março de 2018