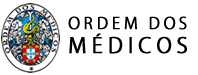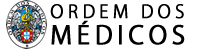Autor: José MD Poças (Médico Especialista em Medicina Interna, Infeciologista e Medicina do Viajante; autor do Livro “Ode ou Requiem”; coautor e editor do Livro “A Relação Médico-Doente” da OM, Provedor da Pessoa Doente da LAHSB; Autor do site josepocas.com que tem como lema “Medicina: Cultura, Ciência e Humanização”, pequeno empresário de turismo, proprietário da Carmos´s Residence Art Apartements em Setúbal)
Reflexões com espírito natalício em tempos de pandemia sobre a medicina e as viagens: Uma evocação da memória de seis colegas, em estilo de dedicatória a um doente especial
“Natal é quando um Homem quiser” (Ary dos Santos, poeta português, 1937-1984)
“Escrever é tentar saber o que escreveríamos se escrevêssemos” (Margarite Duras, escritora francesa, 1914-1996)
“As palavras são um remédio para o homem que sofre” (Ésquilo, dramaturgo grego, 524 AC – 456 AC)
“As grandes verdades só se comunicam através do silêncio” (Paul Claudel, poeta e diplomata francês, 1868-1955)
I)- Introdução
“O Natal não é um tempo nem uma temporada, mas um estado de espírito” (Calvin Coolidge, Presidente norte-americano, 1872-1933)
“A vida é um filme, a morte uma fotografia” (Susan Sontag, ensaísta e realizadora de cinema norte-americana, 1933-2004)
“Nenhum espelho reflete melhor a imagem do homem do que as suas palavras”, (Juan Vives, filósofo espanhol, 1493-1540)
“Os desgostos da vida ensinam a arte do silêncio” (Séneca, filósofo romano, 4 AC – 65 DC)
O Natal é, para mim, tal como para uma porção assinalável de pessoas, muito mais do que o simbolismo inerente a uma data concreta, estendendo-se de forma difusa e imprecisa pela época do ano em que é celebrado e, certamente, muito para além disso. Tal proposição não deixa de ser válida também para os não crentes nas divindades ou nos deuses, como eu, dado que, começando por ser uma efeméride tradicional do cristianismo que visa comemorar o nascimento de Cristo, veio a assumir um carater tão universal que extravasa largamente essa singela e respeitável condição.
Recordo-me, de uma forma arrepiantemente viva, daquela enorme mesa no meio de um imenso salão, com dezenas de pessoas sentadas à sua volta, ao calor da lareira, na casa dos meus tios Verdi e Margarida Pedrosa, no lugar do Corvo, perto da famosa praia de Miramar, onde passei parte da minha infância, em que ano após ano compareci, quase ininterruptamente, desde a mais remota infância até bem depois de ter terminado o curso, na companhia dos meus pais (Manuel e Lucília) e irmão (Jorge), primeiro, e, depois, na da minha esposa (Ana) e filhos (Joana e João), para confraternizar com meus primos-irmãos, Maria Lucinda (Milu), Mário Guerra (Marito), João Nuno (Jonito), Maria Margarida (Gui) e a Eduarda (Dinhas). Era uma noite verdadeiramente mágica onde ninguém se distinguia pela idade, pelo sexo ou pela condição social, à qual, volta e meia, alguns convidados de última hora eram acolhidos como se à família pertencessem há longo tempo. Reinava um espírito de paz e de harmonia que se estendia desde uns quantos dias antes e se prolongava gostosamente por outros tantos mais e que se repetia de novo na festa de fim-de-ano, de modo a fazer-nos esquecer todos os momentos menos bons que havíamos vivido nesse ano, na esperança de que o próximo fosse melhor.
As iguarias tradicionais eram confecionadas com um enorme desvelo pelas mulheres mais velhas (a minha tia-avó Carolina e a minha mãe e a sua irmã Maria Lucinda, tal como pelas empregadas da casa que fui conhecendo ao longo de todos estes anos, de que recordaria com muito gosto a Maria das Dores, a Angelina, a Gina, Senhora Maria e a sua filha mais velha, com o mesmo nome), sob a competente batuta da matriarca Margarida, embora sob o olhar cúmplice dos restantes elementos, por vezes interessados em aprender os segredos culinários que eram ciosamente passados de geração em geração. Muito mais do que as prendas que se compravam e ofereciam na sensata proporção do pecúlio de cada um, e que ninguém se atrevia a invejar, era esse espírito fraterno de cíclico reencontro que se celebrava e que se transportou, para sempre, na memória de todas aquelas afortunadas personagens, ao ponto de ser capaz de corporizar o mais precioso dos talismãs, transmitido com veneração aos vindouros.
Sentimento que se aprofundava sempre que, amargurados, víamos partir um de nós, ou, quando, transbordantes de alegria, um novo filho, sobrinho, neto ou primo despertava para a vida, tal como quando um qualquer elemento decidia casar. Como inevitavelmente acontece em quase todas as famílias e se passou, no primeiro caso, com o meu pai, avós (Severo e Lucinda) e tios (Mário e Olívia), e, nos outros dois, com a Ana e os nossos dois filhos, bem como com os esposos (as) e filhos (as) dos meus primos-irmãos. O conceito prevalecente de família era, portanto, tão saudavelmente impreciso e difuso quanto o da própria noção de Natal.
Tal espírito está também sempre presente quando me desloco várias vezes por ano ao Porto, onde nasci e tenho quase toda a família, em memoráveis jantares de confraternização, alternadamente, nas casas das minhas primas Milu e Gui, ou, quando, uma vez por ano, cumpro o ritual de ir oferecer uma refeição de sável e de lampreia a toda a família mais chegada na casa da tia Margarida, ciosamente cozinhada por mim e pelo meu “irmão de coração”, o colega Ricardo Dias, oftalmologista. De todas estes imprescindíveis e cíclicos encontros, destaco dois. O primeiro, em que participaram, para além dos habituais convivas, o colega cardiologista e grande amigo do meu pai, já nonagenário, Castro Ribeiro, senhor de uma invejável juventude de espírito, e o primo do meu pai, Manuel Pintão, ex-gerente da firma Poças Júnior, fundada pelo meu tio-avô Manoel, que se dedica ao comércio de vinhos do Porto e do Douro. O outro, ocorreu este ano, no sábado que mediou entre as apresentações do Livro da Ordem dos Médicos que referirei mais adiante, no dia anterior, em Coimbra, e, na segunda-feira seguinte, no Porto.
II)- As Histórias
“A única pessoa realmente cega no Natal é aquela que não tem o Natal no seu coração” (Helen Keller, ativista social norte-americana, cega e surda, 1880-1968)
“A necessidade de dar voz ao sofrimento é condição de toda a verdade” (Theodor Adorno, filósofo e sociólogo alemão, 1903-1969)
“A palavra é o espelho da alma: tal o homem, tal a palavra” (Públio Sírio, escritor romano, sec. I AC)
“O silêncio é um amigo que nunca trai” (Confúcio, filósofo chinês, 551 AC – 479 AC)
Embora a minha existência esteja cheia de inúmeras histórias, estas são as que pretendo contar neste escrito, por serem as que melhor se adaptam ao que pretendo transmitir, a maior parte delas nunca contadas antes. Foram escolhidas, não só pelo que têm em comum, mas também pela sua relação temporal entre si e o Natal, celebração que me motivou a escrevê-las por razões que têm a ver, em grande parte, direta ou indiretamente, com a presente pandemia.
Muitas delas têm, não apenas uma, mas várias histórias lá dentro, algumas são estritamente de índole clínica, outras mais relacionadas com o apaixonante tema das viagens, embora eu tente demonstrar que, no fundo, em muitas circunstâncias, o que aparentemente nenhuma relação teria entre si, tem-no afinal de forma indesmentível, mas algo oculta, sobretudo porque todas tratam do relacionamento entre as pessoas, que é, estou certo, um dos aspetos mais decisivamente importantes para a vida. E, a vida, tanto no seu sentido mais estrito, quanto no mais lato, é, sem sombra de dúvida, o aspeto central da Medicina.
A 1ª História: Já tenho feito, por diversas vezes, como estou certo que tal acontecerá, volta e meia, a muitos outros colegas de profissão, um diagnóstico clínico de súbito, ao cruzar momentaneamente o olhar com alguém com quem nos encontramos inadvertidamente de forma fugaz. De igual maneira, também fui aprendendo, ao longo de mais de três dezenas de anos de experiência, que tal apressada conjetura, tando pode ser certeira, como encerrar amargas surpresas, razão de sobra para considerar que devemos ser sempre pouco contundentes, privilegiando sobretudo a necessária sensatez, quanto mais não seja para não ficarmos “mal na fotografia”, como soe dizer-se, ou para não nos arriscarmos a ferir, ainda que involuntariamente, a sensibilidade alheia, através do despertar de eventuais alarmes injustificados, sobretudo quando tal acontece em público.
 Foi mais ou menos isso que se passou com o Macemino (Max, como era conhecido entre os seus pares), cirurgião plástico por quem nutria imenso respeito e amizade. Ao passar por ele, um certo dia, no corredor do Hospital de Setúbal, onde ambos trabalhávamos, verifiquei que apresentava uma assimetria facial sugestiva de uma paresia do VII par craniano que eu nunca houvera notado antes e que tornava estranho a sua forma peculiar de sorrir, pelo que lhe disse espontaneamente, em tom incisivo e amigável: Max, tens de ir ver do que se trata. Os médicos não se devem consultar a si mesmos, e eu já aprendi, há muito, a não fazer aquilo que vulgarmente se denomina, na gíria, de “medicina de corredor”. Respondeu-me, com um ar tranquilo, que iria seguir o meu conselho, mal imaginando qualquer um de nós o desfecho deste furtuito encontro de circunstância.
Foi mais ou menos isso que se passou com o Macemino (Max, como era conhecido entre os seus pares), cirurgião plástico por quem nutria imenso respeito e amizade. Ao passar por ele, um certo dia, no corredor do Hospital de Setúbal, onde ambos trabalhávamos, verifiquei que apresentava uma assimetria facial sugestiva de uma paresia do VII par craniano que eu nunca houvera notado antes e que tornava estranho a sua forma peculiar de sorrir, pelo que lhe disse espontaneamente, em tom incisivo e amigável: Max, tens de ir ver do que se trata. Os médicos não se devem consultar a si mesmos, e eu já aprendi, há muito, a não fazer aquilo que vulgarmente se denomina, na gíria, de “medicina de corredor”. Respondeu-me, com um ar tranquilo, que iria seguir o meu conselho, mal imaginando qualquer um de nós o desfecho deste furtuito encontro de circunstância.
Tendo-me momentaneamente esquecido deste episódio na lufa-a-lufa do meu estonteante quotidiano, ouvi comentar poucos dias depois, pela voz do colega Fontinha, cirurgião geral e seu amigo também: não sabes o que aconteceu ao Max? Respondi que não, mas acrescentei que o tinha encontrado havia poucos dias e aconselhado a ir ver o que se passava com aquela paralisia facial que eu observara nessa altura. Fiquei literalmente siderado com o que ouvi de seguida. No dia em que lhe fizera aquela observação, que terá certamente interiorizado, ao dirigir-se nessa mesma tarde para um hospital privado de Lisboa, no intuito de operar alguns dos seus doentes, resolvendo quiçá seguir o meu conselho, teria acabado efetivamente por ser consultado por alguém e realizado uma ressonância magnética crânio-encefálica logo de seguida, tendo o diagnóstico de uma neoplasia do sistema nervoso central sido colocado de chofre, pelo que acabou, o próprio, por ser intervencionado no mesmo bloco operatório onde seria suposto ir operar. Dramático… inacreditável… balbuciei em estilo de contida, mas inconsolável, postura. Soube, pelo mesmo colega que me interpelara, que o prognóstico decorrente da histologia e da irressecabilidade do tumor não deixava muita margem para acalentar ponta de esperança.
Os meus infindáveis compromissos profissionais e pessoais a que já aludi, mas também o respeito devido à prioritária necessidade de dar espaço e tempo ao próprio doente para digerir primeiramente toda aquela dramática perspetiva de vida com a sua família mais chegada, não me impediram de lhe telefonar algumas vezes, mas desaconselharam uma visita intempestiva ao Hospital. Contudo, nas poucas vezes que falámos por escassos instantes ao telemóvel, pude verificar que se recusava a entregar-se à desgraça, pois tinha ainda a espectativa que a terapêutica complementar (radioterapia e quimioterapia) que viesse a ser efetuada, recuperado que estivesse da intervenção cirúrgica a que se submetera, permitisse dar tempo a que alguma das diversas inovações terapêuticas que se anunciava estarem a despontar, pudesse suster por algum tempo, ou mesmo, quem sabe se para sempre, a evolução, que ameaçava ser avassaladora, da malfadada doença que o tinha tolhido sem piedade. O facto de ter deixado de ter paralisia facial tão acentuada era um não negligenciável bom pronúncio, pelo menos no imediato.
A minha filha Joana, que curiosamente tinha efetuado, tal como o seu irmão, uns bons anos depois do Max, o mesmo programa internacional que lhes tinha permitido fazerem o 12º ano de escolaridade nos EUA, facto que ambos comentámos por diversas vezes, iria em breve viver, na companhia do marido e dos dois filhos, para a Argentina, pois o meu genro João Paulo tinha aceitado ser contratado como CEO de uma grande empresa multinacional com sede em Buenos Aires. A partida estava aprazada para o dia 1 de janeiro do ano seguinte, razão pelo que decidimos ir celebrar a passagem de ano num restaurante de comida regional portuguesa, situado na zona da Expo, em Lisboa. Rumei nessa mesma tarde à capital, no intuito de deixar a Ana na casa da nossa filha, assumindo o compromisso de me juntar a toda a família à hora de jantar e, assim, ter tempo para ir fazer a almejada visita de surpresa ao Max. Fui logo direito ao hospital onde este tinha sido operado e, ao perguntar onde era o quarto onde supostamente estaria internado, fui informado que tinha tido alta para passar a festa de fim-de-ano em sua casa.
Ainda hesitei, mas acabei tentando fazer-lhe uma chamada telefónica, sem, contudo, ter grande esperança que, desta vez, me fosse atender o telemóvel. Ao invés, atendeu-me prontamente, transbordando de alegria com a aquela inesperada iniciativa, convidando-me logo a ir à sua residência, pelo que nem tive coragem de lhe dizer que teria que ser uma visita de apenas alguns minutos, pois, pretendia, naturalmente, não deixar de me despedir a preceito da minha filha e dos meus netos, ainda por cima, porque o meu filho e a Sara, sua esposa, tinham ido morar e trabalhar para Inglaterra no ano anterior e o vazio afetivo resultante destes dois acontecimentos assaltava-me o pensamento de vez em quando, provocando-me uma amarga, mas ténue, angústia.
O trânsito automóvel na segunda circular de Lisboa, como temia, estava absolutamente infernal a essa hora, embora tal não me demovesse de tentar conciliar os dois compromissos. Não tive efetivamente muito tempo para estar com o Max, mas este fez absoluta questão de me apresentar esfuziantemente a toda a sua família e convidados que iam chegando, recordando e comentando sumariamente, com um tocante humor e o seu típico e rasgado sorriso, alguns episódios que ambos havíamos vivenciado, enquanto brindávamos à saúde de todos com uma garrafa de champanhe francês que fez questão de abrir em jeito da mais solene das comemorações. Despedimo-nos depois de passarem mais alguns instantes, muito comovidos, com um apertado e fraterno abraço que jamais esquecerei. Só o voltaria a encontrar no seu velório, escassas semanas depois, onde fiz questão de comparecer, muito consternado, na companhia do mesmo colega que me havia informado da sua inexorável doença.
A 2ª História: Eu e a Ana temos por hábito, desde há muitos anos, de ter o maior período de férias em novembro, de modo a celebrarmos condignamente o nosso aniversário de casamento, já lá vão 38 anos. Geralmente vamos para o estrangeiro, tendo já visitado inúmeros países, pois somos uns intrépidos viajantes. No ano a seguir ao da história anterior, ou seja, há três anos, decidimos rumar ao Ceilão (o atual Sri Lanka, que corresponde à antiga Taprobana referida nos Lusíadas do grande Camões) e às Maldivas (por onde os portugueses também passaram, país de maioria muçulmana cujo dia nacional visa a celebração da sua libertação desse jugo). Estivemos uma semana em cada lado, a primeira a visitar os principais locais históricos daquele mágico país insular, a “Lágrima da Índia”, como também é conhecido, dada a sua localização geográfica e a conformação do seu território, onde ainda se podem observar hoje alguns vestígios da presença lusa. Confesso que percorrer os mesmos caminhos que os nossos intrépidos antepassados, corresponde a uma incontida curiosidade que acalento desde há muitos anos, pelo que esse é um dos critérios para escolher os sítios onde tenho ido passar férias, como neste caso. E, a segunda, a curtir um merecido descanso num fabuloso resort situado numa ilhota daquele que se pensa vir a ser o primeiro país do mundo a desaparecer com o aquecimento global e a consequente subida do nível das águas do mar, pois a altitude média das inúmeras ilhas de coral, por que é formado, é de uns escassos centímetros apenas…!!!
Na véspera de voltarmos para Portugal, dia 22 de novembro, era a data da nossa “secreta” comemoração, pelo que reservámos uma mesa no melhor restaurante do complexo, onde se podia comer peixe e marisco à carta e beber um bom vinho. Estávamos a posar para a fotografia da praxe, tirada por um dos simpáticos empregados, quando ouvi o toque do meu telemóvel. Com lógica curiosidade, espreitei de soslaio para averiguar de quem se trataria, quando vi o nome do colega José Neves no mostrador. Após o disparo da máquina fotográfica, apressei-me a atender, tal como faço sempre, mesmo em férias, aos doentes, amigos ou familiares que frequentemente me ligam. Atendi e perguntei de imediato ao mesmo do que se tratava, esclarecendo-o que estava muito longe em gozo de férias, indo regressar a Portugal no dia seguinte. Este respondeu-me que era apenas para me dar a informação que o nosso colega e amigo comum, Luís Caldeira, tinha adoecido subitamente e com uma patologia de prognóstico muito reservado. Havia regressado, três semanas antes, de um congresso realizado no Funchal, onde tínhamos estado os três e, participado, na mesma mesa e em amena cavaqueira, no jantar de encerramento na companhia de outros colegas, incluindo o Vitor Laerte, assistente do meu Serviço, sem que nada fizesse supor aquela malfadada notícia. Poucos dias depois dessa curta viagem, tinha começado a queixar-se de um insuportável enfartamento pós-prandial e de incomodativa dor no abdómen, queixas que não aliviavam com nenhuma terapêutica sintomática, pelo que acabou por efetuar uma tomografia axial computorizada e uma endoscopia alta que revelou ser compatível com a existência de inúmeras metástases ósseas, que exames posteriores vieram a comprovar terem origem numa neoplasia primitiva e histologicamente pouco diferenciada do trato gastrintestinal.
Perante esta terrível notícia, as lágrimas assolaram-me imediatamente ao rosto, o que fez a Ana ficar muito ansiosa, pois intuiu tratar-se de algo muito grave. Despedi-me do Neves, afirmando que lhe ligaria depois de chegar a Portugal. Só então, terminada aquela conversa telefónica, pude explicar-lhe do que se tratava afinal, o que a deixou igualmente muito cabisbaixa, pois, o Luís, embora meu colega de especialidade, tinha cursado a Faculdade com ambos e também ela guardava dele as melhores recordações. Ficámos os dois literalmente inconsoláveis e mudos por alguns instantes, atordoados com tão tenebrosa notícia, silêncio que terminou com uma incontida e redobrada vontade de nos voltarmos para a celebração da vida a preceito, pois essa seria, concluímos de imediato, à distância de milhares de quilómetros, a melhor maneira de evocarmos a genuína amizade pelo nosso azarado amigo. Ao terminar o jantar e antes de fazermos o habitual passeio higiénico a caminho dos aposentos onde iríamos pernoitar, enviei-lhe um SMS, dizendo muito simplesmente: “estamos solidários contigo e desejamos que tenhas a força necessária para não desistir”. Terminei essa curta missiva, “assinando” pelo casal.
Poucos dias após ter retomado o trabalho, arrumado que estava o infernal expediente que acumulara na direção do Serviço durante aquelas duas semanas de ausência, liguei para o telemóvel do Luís, tendo-o achado nitidamente agastado com os efeitos colaterais da quimioterapia citostática que tinha iniciado havia poucos dias. Disse-me que ainda ia regularmente ao Serviço que dirigia no Hospital de Santa Maria, cargo para o que havia sido nomeado depois da aposentação do colega Neves que me tinha telefonado a dar aquela terrífica nova. Apesar de tudo isto, mantinha uma manifesta serenidade no discurso, onde era possível descortinar uns intermitentes e ténues vislumbres de esperança.
O Natal aproximava-se e eu e a Ana iríamos passar a noite de dia 24 de dezembro na casa da minha filha, na companhia dos meus compadres José e Ana Rias, os netos Simão e Alice, do Pedro, irmão do meu genro, e da minha mãe. Depois de chegar a seguir ao almoço, deixei o resto da família, afirmando que voltaria com as últimas compras para ajudar a confecionar a consoada, mas que queria aproveitar para ir visitar o Luis a sua casa, como já tínhamos combinado telefonicamente na véspera. Feitas as compras e antes de regressar à casa da Joana, conforme o combinado, ainda havia tempo para fazer aquilo que era para mim uma verdadeira imposição da alma: ajudar a confortar o meu amigo, tendo para o efeito embrulhado, como prenda, dois CDs de jazz, que sabia que o iriam agradavelmente surpreender. O Luis também tinha, em tempos, sido músico, mas havia decidido deixar os palcos das salas de concerto antes de começar o internato complementar de especialidade, por achar, pragmaticamente, ser incompatível conciliar o tempo que era necessário dedicar a essas atividades, com o que a profissão lhe iria exigir daí em diante. Tinha pertencido à banda do grande cantautor português, Sérgio Godinho, tocava sax tenor e flauta, amando tanto o jazz quanto eu.
Recebeu-me na companhia da sua esposa, a Maria Leonor (Nonô para os amigos e colegas), médica de família como a Ana, filha de um colega neurologista, Jorge Saraiva, e irmã de um neurorradiologista, o Paulo Saraiva, com quem eu havia trabalhado uns anos antes, no primeiro caso, no Hospital Curry Cabral e, no segundo, no Hospital de Setúbal. Ficou muito sensibilizado com a minha oferta e eu atrevi-me a afirmar que estava convicto de que iria gostar de ambos os CDs, mas em especial o do saxofonista tenor Bob Cooper (seu instrumento de eleição) a interpretar, em quarteto e em quinteto, a sublime música do grande pianista e compositor francês, Michel Legrand, falecido pouco tempo depois com provecta idade. Estivemos os três a conversar muito tranquilamente, recordando um inusitado jantar em que participaram os dois casais e que tinha decorrido num clube de jazz de S. Francisco da Califórnia, um bom par de anos antes, a saborear uma exótica comida etíope, tal como de um almoço de sardinha assada que tinha decorrido no quintal da minha casa, na companhia de outro casal de colegas, o António Diniz e a Margarida, ambos pneumologistas.
Falámos ainda da sua aprazada presença no mês de fevereiro do ano seguinte, nas jornadas organizadas pelo Serviço congénere que dirijo no Hospital de Setúbal, onde teria a incumbência de Presidir a uma Mesa Redonda. Contudo, como facilmente se compreenderá, não deixámos de falar também do seu estado de saúde e de alguns planos que disse ter para depois da reforma, o que era um sinal inequívoco de que não se tinha rendido ainda por completo ao infortúnio do seu destino. Lá me despedi, alegando que uma missão familiar de índole culinária me aguardava, antes de ver chegar a sua única filha para a consoada que iria decorrer dali a algum tempo. Pelo caminho de regresso, recordei-me da forma como me tinha despedido do Max havia praticamente um ano e em como as histórias das pessoas, por vezes, quase que misteriosamente se repetem.
Passados dois dias, o Luís remeteu-me um SMS a dizer que estava imensamente grato pelas minhas prendas que, como escreveu, “lhe conseguiram atenuar, por instantes, a sua angústia existencial, quando começava a pensar no que o futuro lhe poderia reservar daí em diante”. Repeti, então, de mim para mim, as frases do poeta francês, Paul Verlaine, e do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que afirmaram, com muito propósito, o primeiro, “música antes de mais nada”, e, o segundo, “sem música a vida seria um erro”, formas alegóricas de fazer uma alusão ao imenso poder espiritual dessa sublime forma de expressão artística que tanto apreciávamos e que ele dominava como poucos médicos.
Cerca de um mês antes da realização das referidas Jornadas, ligou-me muito pesaroso a pedir desculpa por não se sentir capaz de poder comparecer como havia admitido, justificando tal impedimento com os efeitos secundários da quimioterapia citostática que continuava a fazer. Percebi, pelo tom mortiço da sua voz, que seria muito mais do que isso… Foi, pois, sem grande surpresa, mas com grande consternação, que fui informado, na semana anterior à realização daquele evento, que tinha acabado por falecer no “seu” Hospital. Não pude ir ao velório, mas comprometi-me a comparecer, no dia seguinte, na cerimónia que iria anteceder a inceneração do seu corpo.
Fui dos primeiros a chegar, tendo presenciado a vinda de várias pessoas, umas que desconhecia, mas que presumi serem familiares chegados, tal como de uns quantos colegas que pretendiam fazer-lhe o último adeus, dos quais recordo o Kamal Mansinho, o Robert Badura, a Emília Valadas, o Thomas Hanscheild e a Alexandra Zagalo. Foi então que a pessoa encarregue de zelar pelo cumprimento estrito do protocolo próprio deste tipo de cerimónias, perguntou à Nonô se alguém quereria usar da palavra para fazer um elogio fúnebre, pois tal era necessário ser sabido com alguma antecedência e não em cima da hora, como se lamentou que acontecia amiúde, o que atrasava indevidamente todo o longo cortejo de compromissos que envolviam as cerimónias seguintes já agendadas e que era necessário também saber respeitar. Rodeada pelo que supunha serem os familiares mais chegados, dirigindo-me o seu olhar nostálgico, misto de tristeza, de saudade e de súplica, a Nonô perguntou-me se me importava de ser eu a fazer essa alocução.
Pelo facto de nunca o ter feito antes e de ter sido apanhado de surpresa, ainda sugeri que uma pessoa mais significativa da família o fizesse, mas acabei acedendo, pois ninguém mais se ofereceu e eu não imaginava beliscar que fosse a memória do meu amigo ou deixar desiludidos os presentes, irmanados que estávamos todos do mesmo sentimento de cumplicidade. No meu breve e sentido improviso, lembrei a forma como havia sabido do infortúnio que o vitimou, recordei a visita natalícia que lhe fizera, não me esquecendo de destacar a sua rara competência profissional, o gosto pela música, quer na qualidade de ouvinte, quer na de intérprete, e, sobretudo, a lição de extraordinária serenidade com que nos tinha sabido brindar, atendendo ao modo como havia vivenciado a sua doença e o inexorável final de vida. Terminei, convidando todos os presentes a irem assistir à Conferência Surpresa que iria proferir na Sessão de Abertura das Jornadas que iriam decorrer na semana seguinte, na qualidade de Presidente das mesmas, como sempre faço, esclarecendo que a deste ano seria dedicada a dois colegas músicos: O Luís e o Barros Veloso, indo este último fazer um concerto de jazz, depois do jantar do primeiro dia de trabalhos, no acolhedor átrio do hotel.
Assim aconteceu de facto, e, quase a terminar aquela conferência, coloquei uma gravação em mp3 da belíssima música intitulada “Um tempo que passou”, com poema de Chico Buarque de Holanda, de um LP de Sérgio Godinho que adquirira no tempo da faculdade, na contracapa do qual existia uma foto do Luís. Este tinha sido o responsável do arranjo musical da mesma, aí tocando ainda uns melodiosos trechos de flauta, facto que surpreendeu toda a audiência, tal como me tinha acontecido a mim próprio quando o tinha comprado mais de trinta anos antes. Estou certo de que o Luís teria apreciado imenso o inolvidável momento musical que se lhe seguiu, já referido no parágrafo anterior, em que o colega Barros Veloso atuou ao piano acompanhado por dois excelentes executantes de guitarra e de harmónica, e ao qual assistiram alguns outros colegas, a começar pelo Neves, mas também o Lino Rosado (Presidente Honorário das Jornadas), o David Morais e o Leça da Veiga (respetivamente, anterior e futuro Presidente Honorário das mesmas), o Álvaro Carvalho, o meu primo-irmão António Guerra, a Ana, etc.
A 3ª História– Um ano decorrido sobre a história anterior, um acidente gravíssimo que afetou de súbito a Ana, em que a cadela que eu lhe oferecera três anos antes como prenda de aniversário, a atacou barbaramente no dia a seguir a termos regressado de uma semana de férias em S. Tomé, por alturas da Páscoa, ao ponto de ter corrido sério risco de poder ter ficado cega. Passados quase seis meses sobre duas delicadas cirurgias e uma longa e penosa recuperação, havia que decidir onde iríamos passar, em novembro, o nosso maior período de férias desse ano, no intuito de esquecer as amarguras vividas ao longo desse infindável e traumatizante período de tempo. Sentia que ela estava particularmente fragilizada e necessitava de algo que fosse diferente do habitual e capaz de a ajudar a retemperar a alma. No início de outubro, altura em que pensava voltar ao exercício da sua atividade de médica de família numa unidade de saúde familiar situada no início de uma rua do bairro onde vivemos desde há quase quarenta anos, após uma frustrada tentativa de o fazer aos três meses de evolução, mas em que se apercebeu rapidamente que ainda não tinha recuperado o suficiente da terrível e incapacitante diplopia de que tinha passado a sofrer, depois de se ter encontrado, casualmente, com uma sua colega que se tinha reformado pouco tempo antes, disse-me, com incontida expectativa: Porque é que não vamos fazer uma peregrinação a Israel com a Maria José?
Essa colega tinha ficado viúva no início desse ano e ia fazer essa viagem integrada num grupo liderado por Frei Miguel, uma autoridade em Turismo Religioso e um reconhecido conhecedor daquele país, pelo que era razoável admitir termos boa companhia e de estarmos nas mãos de alguém entendido no assunto. Acrescentou que seria uma soberana oportunidade de poder finalmente realizar um sonho que ela sabia que eu acalentava há muito, apenas não o tendo feito, até aí, pela reconhecida insegurança geopolítica reinante daquela região do globo. Contudo, o que ficou nas entrelinhas desse repto, que descortinei, era mesmo a sua incontida e indisfarçável vontade de o fazer. Sem hesitar, disse que sim, mas com uma condição: a de ir uma semana mais cedo para visitar a Jordânia e ficar uns dias mais em Jerusalém depois de terminar a peregrinação, dado pretender ver muito mais do que “apenas” os lugares santos do catolicismo. Com efeito, não fazia sentido, para mim, gastar tempo e dinheiro sem aproveitar ao máximo esta oportunidade, não indo fazer, desse modo, somente a peregrinação, que, assim, ficaria antes encaixada no meio desse período de férias. Após uma breve reunião com Frei Miguel, realizada alguns dias depois, numa capela de Setúbal contígua a uma outra onde tinha decorrido o velório do meu pai há quase quatro décadas, tudo ficou esclarecido quanto à exequibilidade da minha proposta.
E assim aconteceu de facto, tendo sido mais uma viagem verdadeiramente memorável a vários títulos. O Frei, era, na realidade, alguém superiormente bem informado e sempre disponível (aquela era a quinquagésima viagem que fazia à denominada “Terra Santa”). O grupo de peregrinos era de uma rara simpatia, apesar de só conhecermos a colega Maria José. O mergulho que fiz nalguns dos mais importantes locais simbólicos da Humanidade, foi inesquecível. A semana na Jordânia foi inolvidável e os quatro dias que ficámos a mais em Jerusalém, permitiu ficar a conhecer bastante bem aquela que é, já o sabia, uma das “capitais” da civilização Humana, com uma grandiosidade espiritual verdadeiramente única. Contudo, o que mais me impressionou, foi ter tido a oportunidade de experienciar a magnânima importância do “Silêncio” e da “Palavra” para o meu equilíbrio interior, com uma intensidade que jamais houvera sentido antes, ou tomara disso verdadeira consciência. Por tudo isso, ao saber que o Frei Miguel pretendia fazer uma curta preleção a todo o grupo antes do último jantar, numa sala reservada para o efeito no hotel onde iríamos ficar a jantar e a dormir na última noite daquele périplo, combinei com ele, pedindo-lhe a necessária descrição, que também eu queria dirigir a todos umas palavras, depois da sua alocução.
Nesse curto improviso, no qual me emocionei muito e em que deixei os restantes elementos igualmente tolhidos no seu coração, incluindo a própria Ana, quanto mais não fosse pela surpresa com que foram confrontados, disse mais ou menos isto: “Queria agradecer-vos a vossa muito agradável companhia e explicar sucintamente porque é que um não crente, como eu, fez esta peregrinação, apesar de imensamente cansado que estava de um ano particularmente extenuante de compromissos profissionais e familiares, ao ponto de me sujeitar a horários muito exigentes, que incluíram ter de me levantar vários dias pelas 5.00h da manhã e abdicar de fazer a retemperadora sesta que tão indispensável é para mim aos fins-de-semana e em tempo de férias. Muito simplesmente, para além do inegável interesse pela história das religiões que tenho, por amor à companheira da minha vida, mãe dos meus filhos e avó dos meus netos. Porque sabia que, se tinha sido bem consultada e tratada das maleitas do corpo pelos nossos colegas de profissão (Carlos Trindade, cirurgião, Joana Ferreira, oftalmologista, Ricardo Dias, também oftalmologista, e Paulo Coelho, cirurgião maxilofacial, tal como contei no artigo intitulado “Fragmentos de uma realidade, como mote de uma reflexão acerca da realidade atual do SNS, a partir das citações de três filósofos e de uma homenagem a quatro médicos”), ao ponto de se ter reabilitado quase completamente das sequelas do terrível acidente de que tinha sido vítima meio ano antes, senti que a recuperação da sua alma estilhaçada, passaria por algo como isto que está hoje a terminar e que faria todo o sentido eu vir testemunha-lo, acompanhando-a solidariamente, dada a sua genuína condição de crente. Acrescentei que era um cultor dos bons princípios de todas as principais religiões e que gostava muito de entrar em locais de culto, fossem igrejas, sinagogas, mesquitas ou templos hindus ou budistas, apreciando imbuir-me respeitosamente do espírito introspetivo desses magníficos lugares. Terminei, pedindo desculpa por me ter retirado várias vezes logo depois do jantar para o meu quarto, bem como de ter deixado de lhes fazer companhia num ou outro curto passeio no final da tarde, quando chegávamos ao hotel depois das várias visitas de cada jornada, tal como pelo facto de me terem visto muitas vezes agarrado ao telemóvel no autocarro onde nos deslocamos durante a semana em que calcorreamos parte desse País tão sem par. Fiz questão de explicar que tinha utilizado esse tempo para ultimar os preparativos da cerimónia de apresentação de um livro da Ordem dos Médicos de que era editor e coautor, que iria decorrer precisamente no dia a seguir a voltar de férias, tal como a escrever o discurso que aí teria de ler. Estão todos convidados, rematei. É que há praticamente dois anos que estou focalizado em levar por diante este projeto que considero um verdadeiro desígnio, em conjunto com um grupo de colegas (o próprio Bastonário, Miguel Guimarães, Barros Veloso, Álvaro de Carvalho e Amadeu Lacerda). É sobre a “Relação Médico-Doente”, e as palavras do Frei Miguel que fui ouvindo ao longo destes dias, impeliram-me a fazer pontuais, mas decisivas alterações no seu texto”.
O dia do aniversário de casamento foi passado a calcorrear o labirinto da cidade velha, onde almoçámos num magnífico restaurante arménio, situado no respetivo quarteirão. O jantar foi num restaurante de comida regional que se situava num bairro típico perto do hotel onde estávamos hospedados e frequentado pelos “hereges” cristãos, dado ser sexta-feira à noite e, por consequência, quer judeus, quer árabes, estariam ambos supostamente recolhidos a orarem em suas casas, uns a iniciar os preparativos do seu dia santo da semana, e os outros a termina-lo, razão por que foi a única noite, dado estar quase tudo encerrado, em que não saímos para assistir a um espetáculo musical à noite.
Na manhã do dia a seguir ao domingo em que chegámos a Setúbal, passei pelo Hospital para me inteirar de algo que exigisse a minha presença de forma inadiável, após o que passei de novo por casa para buscar a Ana e rumar à sede da Ordem dos Médicos, em Lisboa. Aí chegado, fui ultimar os detalhes da cerimónia com o secretariado do Bastonário com quem tinha estado em permanente contacto (tal como com a editora, a ByTheBook) e levantar os cinquenta livros a que tinha direito como retribuição da comparticipação efetuada pela Liga do Serviço que dirijo (a LACPEDI- Liga de Apoio Comunitário em Prol do Estudo das Doenças Infeciosas, presidida por Cândido Teixeira, que desempenha igual cargo na LAHSB- Liga dos Amigos do Hospital de S. Bernardo), acabando por almoçar no seu agradável restaurante. Terminado o almoço e antes de rumar à Torre do Tombo, onde a cerimónia de apresentação do Livro iria decorrer pelas 18.00h, impus-me fazer três visitas a outros tantos colegas que sabia estarem muito doentes e que, não fora isso, não deixariam certamente de estar presentes na mesma. Assim, na companhia da Ana, visitei, por uma ordem que teve a ver com aquilo que supus ser a mais lógica para tentar fugir ao trânsito e evitar atrasos. Primeiro, ao João Taborda, depois ao Professor Fonseca Ferreira e, a terminar, ao Jorge de Melo. Todos tinham estado na cerimónia de apresentação do meu livro “Ode ou Requiem”, e, por razões naturalmente diversas, como explicarei de seguida, diziam-me algo de muito próprio e profundo. Por isso, como se aproximava a época natalícia, decidi oferecer-lhes o livro que iria apresentar daí a pouco, com uma dedicatória. Aquando dessa cerimónia e no meio de muitas dezenas de convidados, lá estavam o Frei Miguel e alguns dos peregrinos da viagem a Israel (a Maria José, a Manuela Beija, a Ana Maria, sua irmã, e os respetivos maridos).
Conhecia o Taborda, um colega pneumologista, desde os tempos do início do internato de especialidade, tendo uma sólida amizade nascido desde muito cedo. Almoçámos muitas vezes nos intervalos das nossas atividades profissionais, apresentámos trabalhos em congressos, publicamos artigos em jornais médicos e discutíamos regularmente casos clínicos. Na véspera de um desses eventos, chegou a ajudar a desempanar o carro da Ana que avariara à saída da ponte 25 de Abril, quando vinha ter comigo a Lisboa, vinda de Setúbal, estava ela grávida do João. Era um fotógrafo emérito de renome nacional e de projeção internacional, tendo efetuado, a meu convite, quando presidi à Direção do Distrito de Setúbal da Ordem dos Médicos, uma exposição de fotografia na Galeria Municipal da cidade sobre a sua viagem ao Vietnam, e, tendo feito também uma conferência, no auditório do Hospital de Setúbal, sobre a sua visão pessoal acerca daquela que considerava ser a expressão artística de maior relevo e na qual era um verdadeiro mestre, no dia em que celebrei o meu quinquagésimo aniversário, tal como viria a ser ainda comentador, em conjunto com o meu amigo Eduardo Carqueijeiro (arquiteto e pintor), de uma conferência que proferiria naquela mesma sala, uns anos depois, sob o título “Pintura e Medicina”, da qual foi presidente um outro colega, internista, também fotógrafo e escritor emérito, o José Barata, e moderada por outro colega e amigo, o Mário Carqueijeiro, internista, endocrinologista e também escritor.
Ligou-me nas vésperas das Jornadas em que homenageei o Luís Caldeira, a comunicar que não poderia aceitar o meu convite para ali estar presente, e presidir a uma Conferência sobre “História de Fotografia” proferida depois do jantar do segundo dia pelo já referido José Barata. A razão do seu impedimento prendia-se com o facto de ter sido convidado para integrar um Júri de uma Concurso Internacional de fotografia. Perante esta indisponibilidade de última hora, eu mesmo assumi o papel que lhe estava destinado, dizendo-lhe que, para a próxima, já não aceitaria de todo “desculpas” daquele género.
Como as Jornadas se realizam a cada dois anos e são preparadas no ano anterior, tentei ligar-lhe, volvidos alguns meses, no intuito de combinar o tema de uma exposição de fotografia que pretendia que preparasse com o devido tempo para as jornadas seguintes, já que a das últimas tinha sido um sucesso, tendo sido protagonizada pelo meu primo António Guerra, um professor de pediatria, ornitólogo amador também, que calcorreia literalmente todos os cantos do mundo a fotografar aves. Pensava propor-lhe o tema da “Paisagem Humana” dado ser essa uma das suas vertentes mais bem conseguidas. A minha surpresa foi enorme quando vi que quem me atendeu o telefone foi a sua esposa, a Fátima, também pneumologista. Perguntei-lhe o que se passava com o Taborda, pois há semanas que não me respondia aos sucessivos mails.
Percebi, de imediato, pelo seu tom de voz, que algo de muito grave deveria estar a acontecer. Ter sabido que o meu grande amigo estava internado num centro de recuperação, pois tinha sequelas motoras de grande monta, devido à progressão de um tumor do cérebro que não se tinha conseguido ressecar completamente através de uma intervenção cirúrgica, doença que já estava presente quando me tinha comunicado a sua indisponibilidade para comparecer nas Jornadas, deixou-me literalmente sem voz e, mesmo, quase sem respiração. Lembrei-me imediatamente do Max e do Luis, tendo dito à Fátima que, logo após as férias, iria vê-lo, tal como veio a acontecer.
A visita não foi longa, mas ambos nos emocionámos contidamente, quando lhe estendi o livro autografado e com uma sentida dedicatória. Apresentava uma nítida dificuldade em expressar-se verbalmente, recebendo-nos sentado numa cadeira-de-rodas. Fiquei ao corrente que, no início desse internamento, ainda teve capacidade para fazer uma conferência sobre fotografia para os residentes dessa instituição, mas isso agora seria verdadeiramente impensável acontecer. A Fátima fez um enorme esforço por não chorar à frente dele, mas quando nos acompanhou à saída, ao despedir-se, não se conteve, e as lágrimas escorreram-lhe pelo rosto. Chorar, alivia a alma, e são só os fortes que o fazem, disse eu, tal como repito, por vezes, para mim mesmo, quando tal me acontece. Ninguém se deve autocensurar nem ter complexos por fazê-lo volta e meia, acrescentei. Só o reencontrei, escassas semanas depois do Natal, no seu próprio velório, onde compareci com a Ana, tendo feito questão de participar numa sentida homenagem que o Clube Rotário de Sesimbra lhe fez pouco tempo depois, a convite da Fátima, na qual esta lhe fez um elogio contido e cheio de significado.
 O Professor Fonseca Ferreira foi, indiscutivelmente, um dos meus maiores Mestres. Um insigne internista e endocrinologista, minhoto de gema, havia efetuado o internato complementar nos famosos Hospitais Civis de Lisboa em conjunto com o nosso grande amigo comum, Barros Veloso, o doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tendo ido depois para Moçambique para ser docente da Universidade de Lourenço Marques, onde foi professor de muitos colegas que conheci, a começar do meu primo António Guerra, e, finalmente, sido diretor de um dos Serviços de Medicina Interna do Hospital de Setúbal. Conheci-o quando me transferi, a meio do internato complementar, de Lisboa para o Hospital da cidade onde passei a viver depois de casar.
O Professor Fonseca Ferreira foi, indiscutivelmente, um dos meus maiores Mestres. Um insigne internista e endocrinologista, minhoto de gema, havia efetuado o internato complementar nos famosos Hospitais Civis de Lisboa em conjunto com o nosso grande amigo comum, Barros Veloso, o doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tendo ido depois para Moçambique para ser docente da Universidade de Lourenço Marques, onde foi professor de muitos colegas que conheci, a começar do meu primo António Guerra, e, finalmente, sido diretor de um dos Serviços de Medicina Interna do Hospital de Setúbal. Conheci-o quando me transferi, a meio do internato complementar, de Lisboa para o Hospital da cidade onde passei a viver depois de casar.
Fui o seu principal assessor durante oito anos consecutivos no Departamento de Formação Pós-Graduada do Hospital de Setúbal e um dos seus mais próximos colaboradores na Sociedade Médica dos Hospitais Distritais da Zona Sul, tendo organizado com ele muitas dezenas de Reuniões e Congressos, bem como colaborado na feitura do Boletim Clínico do Hospital e na Revista Médica da Sociedade de que era o Diretor e que tinha fundado, sendo o seu primeiro Presidente. Sucedi-lhe na Presidência da Direção da Distrital de Setúbal da Ordem dos Médicos, tendo sido médico da sua esposa, uma pintora amadora de rara sensibilidade e, em conjunto com um sobrinho da mesma, o arquiteto Luís Vilhena, na altura deputado da Assembleia da República, colaborei na organização dos preparativos para a ida do casal para uma residência assistida, pois a provecta idade de ambos e as maleitas diversas que surgiram, na ausência da existência de filhos, não deixava outra melhor alternativa.
Fui o editor de um livro de textos seus acerca da educação médica, que teve o patrocínio da Bial. Organizei, com outros colegas (Amadeu Lacerda, Heliodoro Sanguessuga e Valente Fernandes), a sua candidatura ao “Prémio MSD” para distinguir a personalidade médica desse ano, tal como umas Jornadas Médicas quando se aposentou por limite de idade e nas quais foi agraciado com a Medalha de Ouro do Ministério da Saúde. Várias vezes o convidei para vir jantar a minha casa e muitas vezes o fui visitar nas duas residências onde viveu os últimos anos de vida. Foi, até ao fim dos seus dias, uma das mais irrequietas mentes que conheci. Na última visita que lhe fiz nessa tarde, já estava viúvo havia uns meses, ao oferecer-lhe o livro, ainda pude verificar que andava a escrever no seu computador, com a ajuda de uma enfermeira, uns textos sobre o seu tema favorito. Mesmo um pouco estremunhado da sesta que acabara de fazer, notei que mantinha o mesmo desconcertante humor. Talvez fosse isso, em parte, o verdadeiro segredo da sua longevidade e da sua inegável juventude de espírito, pensei.
A pandemia impediu que prestasse a minha última homenagem a esta figura da medicina portuguesa contemporânea tão importante, representativa de uma geração de notáveis colegas que lecionaram nas Universidades de Luanda e de Lourenço Marques, alguns dos quais com quem tive a feliz oportunidade de vir a trabalhar e a privar, tais como os Professores Gil da Costa e José Luis Champalimaud, entre outros. Este sentimento de verdadeira orfandade perante tão enorme perda, será certamente partilhado por muitas dezenas de colegas que conheço e por muitos anos.
O Jorge de Melo era um colega hematologista de rara competência e disponibilidade que conheci na enfermaria do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Pulido Valente, onde iniciei o internato complementar de especialidade e onde conheci, entre outros, o colega João Taborda, pois quando havia um caso mais complicado desse foro para discutir, era ele que aí se deslocava, vindo do Hospital de Santa Maria. Desde essa altura que fiquei a admirar a sua finura no trato com colegas e doentes, mas só mais tarde, durante o ano em que estagiei no Instituto de Oncologia, onde tinha sido, entretanto, provido na qualidade de assistente hospitalar, pude verificar a sua grande dimensão intelectual e cultural, próprias de um verdadeiro Humanista da Medicina. O seu interesse pela ética e pela deontologia estavam permanentemente presentes a propósito de todos os temas teóricos, tal como dos casos clínicos que discutia e dos doentes que tratava, realçando sempre que considerava ser verdadeiramente fundamental valorizar a interação humana em todas as especialidades médicas.
Era senhor de uma rara capacidade didática, pois tinha sido docente de farmacologia na Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa. Pude verificá-lo aquando do primeiro curso teórico que deu origem ao Ciclo de Estudos Especiais de Oncologia que frequentei, e onde foi docente, tal como nas Sessões Clínicas do Instituto ou nas Reuniões Clínicas do Grupo Oncológico do Sul. Já depois de ter terminado esse estágio, pude continuar a discutir e a tratar doentes comuns, dado ter ido para o Serviço de Doenças Infeciosas e para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Curry Cabral, especialidades que, nessa altura, não existiam no Instituto, tal como aquando das reuniões sobre Filosofia Médica que decorreram aos sábados de manhã, organizadas conjuntamente com outro colega hematologista e grande amigo comum, o Manuel Silvério Marques, hoje em dia professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, desde que se doutorou e se aposentou daquele mesmo hospital.
Por todas aquelas razões, não admira que os tenha convidado a ambos, por diversas vezes, para participar em diversas Reuniões que organizei, quer no Hospital de Setúbal, quer nos Cursos Médico-Legais que, em conjunto com a Ordem dos Advogados, presidida então pelo meu amigo Candido Casimiro, decorreram durante seis anos consecutivos na mesma cidade, quando presidi à Distrital de Setúbal da Ordem dos Médicos. Ambos estiverem presentes em dois deles, tendo essas iniciativas permitido que alargasse muito o âmbito dos meus contactos, não só por ter passado a conhecer muitas pessoas interessantes e participar em vários debates sobre temas de candente importância, bem como, inclusive, por ter feito alguns amigos, como por exemplo, o Luís Fuzeta da Ponte, jurista e atual membro da LACPEDI.
Sabia que tinha uma espondilite anquilosante que progressivamente lhe ia limitando a mobilidade e a qualidade de vida, mas apenas uma vez o ouvi referir-se a essa circunstância com alguma amargura, quando me telefonou numa altura em que estava de férias no Algarve, na companhia da esposa, dos filhos e dos netos, para se aconselhar acerca do que deveria fazer para equilibrar a sua hipertensão arterial que se tinha descontrolado. Agradeceu-me uns dias depois, também telefonicamente, dizendo ter conseguido, com a alteração terapêutica que lhe sugerira, evitar interromper as férias e vir a Lisboa. Contudo, acrescentou que estava a começar a ficar muito preocupado, porque o seu filho tinha a mesma doença reumatológica, apresentava-se mais queixoso do que o habitual, e, o Jorge, embora racionalmente achasse que isso não lhe deveria causar qualquer espécie de complexo de culpa, deixou escapar que o que sentia no seu íntimo, não era exatamente isso, sentimento que o ia atormentando sub-repticiamente, volta e meia, sobretudo à medida que a sua doença o deixava cada vez com intervalos mais raros e pequenos sem sofrimento, pelo que percebi que temia que tal viesse também a acontecer ao seu filho…
Já muito dorido quando dava apenas alguns passos, com um rol progressivamente crescente e cada vez mais complexo de complicações orgânicas, umas ligadas à doença, outras à iatrogenia consequente aos medicamentos com que estava a ser tratado, em especial da corticoterapia, visitei-o várias vezes em sua casa, situada ao pé do Hospital onde a sua esposa, a Maria José, oncologista pneumológica, tinha trabalhado até à sua aposentação e onde o João Taborda exerceu, nos últimos anos, a atividade de Médico do Trabalho, a sua segunda especialidade. Deslocou-se a Setúbal, na companhia do Silvério Marques, aquando da apresentação do meu livro “Ode ou Requiem”, do qual tinha sido, sem sombra de dúvida, o meu mais rigoroso revisor, vendo tudo o que ninguém notara antes, pois tinha um invejável domínio da escrita. Após essa cerimónia, onde fez questão que lhe autografasse o livro que comprara, ao chegar a casa, enviou-me um mail a dizer de uma forma muito sentida: “que belíssimo livro”. Ao qual respondi, agradecendo o seu generoso e decisivo contributo.
Ainda se deslocou também, no ano seguinte, para assistir à minha primeira conferência sobre “Pintura e Medicina” que efetuei no auditório da sede nacional da Ordem dos Médicos, organizada pelo colega e amigo António Trabulo, neurocirurgião, escritor e editor muito prolífico, na altura Presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos e que havia feito parte dos corpos gerentes da Distrital de Setúbal da Ordem dos Médicos, no último triénio a que a ela presidi. Esta cerimónia foi presidida pelo colega Barros Veloso e comentada por outro colega internista, o Luis Campos, um fotógrafo com créditos firmados, tal como pela minha comadre, a Ana Rias, professora de história e especializada em história da pintura. No final, coloquei uma música em mp3 de uma faixa de um CD do pianista de jazz, Ezra Weiss, intitulado “Alice in Wonderland” que dediquei à minha neta que já sabia ir ter esse nome, embora ainda na barriga da minha filha que estava a assistir, tendo igualmente feito uma alusão à lindíssima cidade de llandudno, sitiada no norte do País de Gales, onde Charles Lutwidge Dodgson (mais conhecido pelo pseudónimo de Lewis Carroll) escreveu o livro, e onde tinha estado de férias com o meu filho no ano anterior.
Pela fragilidade da sua condição de saúde, recusou, com muito pesar de ambos, ir à minha casa no dia seguinte com o Silvério Marques, para participar num almoço que contou com a presença dos colegas Barros Veloso e António Trabulo, para além de outros (Machado Luciano, Jorge de Freitas, Mario Carqueijeiro e Ricardo Dias), dos meus compadres (casais Rias e Beatriz), numa refeição que foi confecionada por mim mesmo e pelo meu compadre José Beatriz com a preciosa ajuda da nossa empregada, Paula Silvério. Esse era, casualmente, o dia de aniversário do Afonso, filho mais novo do Manuel e da Sandra Salazar, e eu quis aproveitar esse momento, dado o Manuel Salazar ter sido meu doente e estar biografado no meu livro “Ode ou Requiem”, para dizer que eu e a Ana gostávamos muito de receber convidados em nossa casa, e que pretendia agradecer a todos os presentes por, de uma forma ou de outra, terem estado ligados à feitura do mesmo. Ao Afonso, ofereci-lhe uma ida ao Hot Clube de Lisboa, em que nos acompanhou, na semana seguinte, para assistir a um concerto de jazz em que atuava o Barros Veloso ao piano, instrumento que estava a aprender com afinco.
Na última visita que lhe fiz, tinha tido um internamento hospitalar não havia muito tempo, estava com imensa dificuldade em se locomover, mas, mesmo assim, fez absoluta questão em se erguer sem qualquer ajuda do sofá onde estava sentado, para nos cumprimentar, quer quando chegámos, quer à despedida. Mantinha uma cortesia e uma serenidade no trato que nunca verifiquei em mais ninguém, sobretudo para com as pessoas do sexo oposto. Jamais esquecerei que, quando estagiei com ele e o meu filho João nasceu, ao ter ficado a saber que existia uma suspeita, felizmente não confirmada depois, que poderia ter uma mucoviscidose, dado apresentar uma diarreia crónica e de ter começado a perder peso, já lá vão mais de trinta anos, começava sempre por me perguntar, quando nos encontrávamos ou falávamos telefonicamente, e, nesse mesmo dia, também, como estavam a passar de saúde os meus filhos. A fragilidade manifesta da sua saúde, fez-me ocultar-lhe, quando lhe ofereci o livro, que se havia pessoa de que eu tinha tido imensa pena de não ter podido contar entre o rol dos autores, era a dele. Elogiou muito o seu aspeto gráfico ao folheá-lo por breves instantes, dizendo-me que se via de imediato que era eu o editor, pois estava recheado de belíssimas pinturas alusivas aos diversos temas, ao que eu lhe respondi que tinha levado imenso tempo a serem selecionadas, dado o esmagador manancial existente.
A despedida foi, tudo menos efusiva, talvez porque ambos percecionamos interiormente que não iria haver outra, tal como tinha acontecido com o Taborda. Ao contrário deste, e tal como aconteceu com o Professor Fonseca Ferreira, já em pleno período de confinamento por causa da presente pandemia, as cerimónias fúnebres só podiam legalmente contar com um reduzido número de elementos, pelo que disse ao Silvério Marques, que me deu a notícia do seu trágico falecimento, que apresentasse à esposa e à restante família as nossas sinceras condolências. Por mim, iria guardar para sempre na minha memória, num lugar bem cimeiro, a saudade deste meu colega e amigo.
A 4ª História – Dois dias depois da cerimónia de apresentação do livro sobre a “Relação Médico-Doente”, ao abrir o meu telemóvel para efetuar qualquer operação que não recordo exatamente qual, verifiquei que um ponto azul me chamava a atenção para a entrada, nesse preciso instante, de uma mensagem no Facebook. Confesso que, se não fosse o meu amigo Álvaro Piteira, um especialista em comunicação digital e responsável pelos meus dois sites josepocas.com e carmosresidence.com me ter incluído nessa e noutras redes sociais, ainda hoje eu estaria ausente delas. O Facebook raramente vejo, e quanto às restantes, nem sequer sei como funcionam e mal lhes conheço o nome. De qualquer maneira, algo que não consigo explicar bem me fez ir ver logo do que se tratava. Fiquei estarrecido. Era o meu colega Pedro Marques da Silva, que sabia ter adoecido muitos meses antes com uma doença oncológica, a perguntar-me como poderia ter acesso ao livro do qual teria tido conhecimento da sua publicação pela comunicação social ou pela própria Ordem dos Médicos, não sou capaz de dizer ao certo.
Quando soube do seu diagnóstico, troquei com ele algumas mensagens pelo telemóvel. Na primeira, logo a seguir a ter sido disso informado, não me recordo como ou por parte de quem, desejei-lhe as melhoras e disse-lhe que o acompanhava no seu infortúnio. Na última vez que me respondeu, algumas semanas depois, subentendi que estaria perfeitamente consciente da enorme gravidade do seu prognóstico vital a curto prazo, pois afirmou-me estar a encetar um “novo” percurso da sua vida, o que interpretei como um sinal inconfessado de que se estaria a preparar psicologicamente para o fim que aí viria em breve… A minha estupefação tinha a ver, assim, com o facto de ter chegado a admitir, a partir de certa altura, que teria falecido sem o meu conhecimento, dado nunca mais termos trocado qualquer outra mensagem.
 Tinha trabalhado com o Pedro durante alguns meses, na altura em que, há cerca de três décadas, ambos tínhamos sido médicos residentes da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Curry Cabral, altura em que nasceu uma amizade discreta, mas sincera. Deixou muito antes de mim esse posto, confessando-me ir passar a preservar mais a sua frágil condição de saúde, ficando então a saber, por ele próprio, que sofria de uma hipogamaglobulinémia A (a mais comum das imunodeficiências primárias), e de um Síndrome de Ehler-Danlos, o que justificava plenamente o seu modo de andar tão peculiar e a estranha sensação que se sentia de imediato ao dar-lhe um simples aperto de mão. Eu ainda por lá fiquei por mais cerca de dois anos, mas não deixámos, nunca, de nos encontrarmos, volta e meia, em congressos, ou de irmos acompanhando, à distância, mas com um certo interesse, o percurso profissional um do outro.
Tinha trabalhado com o Pedro durante alguns meses, na altura em que, há cerca de três décadas, ambos tínhamos sido médicos residentes da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Curry Cabral, altura em que nasceu uma amizade discreta, mas sincera. Deixou muito antes de mim esse posto, confessando-me ir passar a preservar mais a sua frágil condição de saúde, ficando então a saber, por ele próprio, que sofria de uma hipogamaglobulinémia A (a mais comum das imunodeficiências primárias), e de um Síndrome de Ehler-Danlos, o que justificava plenamente o seu modo de andar tão peculiar e a estranha sensação que se sentia de imediato ao dar-lhe um simples aperto de mão. Eu ainda por lá fiquei por mais cerca de dois anos, mas não deixámos, nunca, de nos encontrarmos, volta e meia, em congressos, ou de irmos acompanhando, à distância, mas com um certo interesse, o percurso profissional um do outro.
Ambos internistas, ele tinha-se dedicado sobretudo à área do risco cardiovascular e às dislipidemias, das quais se transformou numa verdadeira referência a nível nacional e, eu, com o surgimento das grandes pandemias da segunda metade do século XX, a infeção pelo VIH/SIDA e as infeções pelos vírus das hepatites, pela infeciologia, por sentir ser imperioso passar a dar uma assistência estruturada às dezenas de doentes que entravam às catadupas pelo meu Hospital dentro, a partir da segunda metade da década de 80 do século passado.
A última vez que o tinha encontrado, tinha sido num Congresso de Gerontologia, organizado pelo meu colega e amigo Canas da Silva, realizado há cerca de seis anos em Lisboa, em que eu tinha apresentado uma Conferência intitulada “Envelhecimento e infeção pelo VIH”. No final, veio cumprimentar-me e falámos circunstancialmente acerca das nossas vidas e da crise do sistema de saúde em Portugal. Era, como o afirmei publicamente num outro congresso decorrido uns anos antes, na Figueira da Foz, em que o palestrante foi dessa vez ele, o colega com quem eu tirava dúvidas quando tinha um caso de hipertensão arterial de difícil controlo por suspeita de alguma raríssima causa primária cuja investigação diagnóstica que fizesse fosse inconclusiva, tal como aconteceu, que me lembre, por duas vezes.
Ao ler aquela inusitada e mais do que inesperada mensagem no telemóvel, imediatamente respondi que seria muito fácil: eu próprio lho levaria em mão. Perguntei-lhe onde morava e disse-lhe que iria a Lisboa, no domingo seguinte, dia 1 de dezembro, pois tinha um compromisso de ir participar num evento organizado pelo semanário “Expresso”, em conjunto com outros convidados, em jeito de comemoração do Dia Mundial da SIDA, a meio da tarde desse dia, no Teatro S. Luís. No dia seguinte, a minha filha Joana informou-nos que tinha decidido comemorar nessa mesma data, e não no fim-de-semana seguinte, como seria suposto, os anos do meu neto Simão, dado que o seu aniversário é no dia 3 de dezembro. Exclamei que não lembrava a ninguém celebrar um aniversário em data anterior ao mesmo e que tinha dois compromissos já agendados, pelo que iria deixar a Ana em sua casa, só voltando para apagar a velas por volta das 19.00h, mas que, tendo muita pena de não estar presente na festa, não iria deixar de honrar os meus compromissos e, muito menos, prescindir de ir visitar o meu colega e amigo Pedro Silva.
Assim aconteceu, de facto. O Pedro estava sozinho em casa, pois nunca tinha tido filhos e, a esposa, Isabel Marques da Silva, que nunca conheci pessoalmente, estava ausente, dado ter ido fazer um trabalho de voluntariado, ao que penso, relacionado com as festividades natalícias, numa associação de beneficência na qual regularmente colaborava. Comecei por me inteirar acerca do seu estado de saúde, tendo ficado a saber que estava a fazer quimioterapia citostática para tratar uma neoplasia gástrica de um raro subtipo histológico, pelo que ainda especulámos se poderia ter alguma relação indireta com as doenças de que padecia.
Chegámos à conclusão que, apesar da nossa amizade, o pouco convívio que afinal tínhamos tido fora da atividade profissional, não nos tinha permitido conhecermo-nos tão bem assim. Constatámos que ambos eramos uns grandes amantes da arte de bem viajar e também melómanos e colecionadores incorrigíveis. Comentou, depois de folhear o livro, que se tinha dedicado muito à investigação, sem dar, no entanto, o devido realce à importância da sua própria reflexão pessoal acerca da faceta humana do exercício da Medicina, embora, na prática clínica, sempre a tivesse cultivado intuitivamente e considerado mesmo fundamental para que ato médico atingisse a sua devida plenitude. Por isso, sentiu a curiosidade de ter acesso ao livro, pois as suas leituras tinham sido, até aí, mais de outra índole.
Por isso, aproveitei uma leve pausa no seu discurso, para o informar que esse era precisamente o vetor a que tinha decidido dar particular destaque ao conceber um livro sobre a “Relação Médico-Doente”, tal como já tinha acontecido ao que já tinha publicado antes, “Ode ou Requiem”, no qual abordava a minha relação com algumas dezenas de doentes que tinha tratado, desde colegas, familiares e amigos, passando por alguns que já acompanhava havia longo tempo, ou aqueles que havia apenas visto uma única vez no Serviço de Urgência, às vezes sem sequer já me lembrar do seu nome ou de saber do que lhes havia acontecido depois. Recordei, ainda, que, no dia da cerimónia de apresentação desse livro, que contou, na Mesa da Presidência, para além da Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, e da Diretora Clínica do Centro Hospitalar de Setúbal, colega Quitéria Rato, do ex-Bispo de Setúbal, D. Manuel Martins (infelizmente falecido pouco tempo depois), e dos colegas José Manuel Silva (enquanto Bastonário da Ordem dos Médicos e autor do posfácio) e Barros Veloso (autor do Prefácio), eu havia efetuado, na manhã desse dia, a convite da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos, uma Conferência intitulada “O Ato Médico e a Relação Médico-Doente”. Dia que terminou, de forma apoteótica, com um concerto de jazz comentado, realizado no salão do Clube Setubalense, por um trio liderado pelo colega e pianista, Barros Veloso.
Disse-me que apreciava muito a vida, que conhecia a sua esposa desde criança e que a mesma era o seu grande amparo nos momentos mais difíceis, como aquele que estava a viver, pelo que, talvez por isso mesmo, já depois de saber do diagnóstico da sua doença, num período de aparente bonomia entre dois ciclos de quimioterapia, tinha ido passar uma inesquecível semana de férias a Nova Iorque, uma das suas cidades preferidas, tendo-se literalmente perdido nos labirintos dos museus e dos clubes de jazz. Alimentar o espírito é, pelo menos, tão importante, quanto tratar do corpo, enfatizou.
Concordei plenamente e disse-lhe que também eu tinha estado nessa cidade por três vezes, que a considerava a verdadeira capital do Mundo, muito mais do que a identificar apenas como Americana no sentido mais estrito, e que também tinha passado uma semana de museu em museu e de clube de jazz em clube de jazz, sem nunca me fartar, tendo vontade de a revisitar um dia destes. Contudo, acrescentei, uma terrível recordação me ligava a ela. Esclareci-o que a Ana, que ele mal conhecia mas sabia ser médica também, tinha adoecido gravemente com um Síndrome de Ramsay-Hunt complicado de encefalite, consequente a uma zona que só se tornou patente uma semana depois, no dia a seguir a voltarmos de férias, o que lhe deixou algumas sequelas, tendo o quadro clínico sido confundido, de início, com um possível primeiro surto de esclerose múltipla. Descoberta a afinal a sua verdadeira etiologia, tínhamos ido consultar de seguida o otorrinolaringologista da casa real Espanhola, em Barcelona, pois o Professor Gabão da Veiga, seu amigo, admitia a hipótese de ter de se recorrer a uma delicada cirurgia de descompressão do gânglio geniculado, dado haver em Portugal, nessa altura, uma escassíssima experiência nesse tipo de intervenção. Felizmente, havia recuperado parcialmente com terapêutica médica (dirigida pelo nosso colega e amigo Pinto Marques, neurologista), e fisioterapia, tendo inclusive ficado capaz de fazer a sua vida quase sem limitações, embora, por grande azar (ou sorte?), ter posteriormente sido afetada do lado contralateral da face, aquando do acidente provocado pela mordedura da nossa cadela…
Aproximava-se a hora de ter de ir para o meu compromisso seguinte, pelo que nos despedimos num “até qualquer dia”, prometendo que o próximo encontro seria na companhia das respetivas esposas, pois tinha ficado subjacente um sentimento de cumplicidade que tínhamos vontade em aprofundar. Faleceu pouco tempo depois do Dia de Reis do ano seguinte, ainda antes do Taborda. Pelo caminho para o S. Luís e depois para a festa de anos do Simão, ainda sem saber do desfecho desta e das três últimas histórias, todas as que decidi aqui contar até ao momento me vieram à cabeça, não sendo jamais possível encontrar explicação racional para um tão grande rol de coincidências!!!
A 5ª História– Há cerca de dois anos, terminámos as obras de reabilitação de um edifício localizado na zona histórica da cidade de Setúbal, deixado como herança dos pais da Ana, e, para o qual, tínhamos mobilizado as poupanças de dois Planos de Poupança Reforma que havíamos resgatado no ano anterior. Tínhamos um inquilino no r/c, uma perfumaria, o 2º andar estava desocupado havia mais de um ano, e, o 1º andar, tinha ficado vago pela ida da sua única inquilina, por decisão da sua família, para uma residência sénior, pois para além da idade e das doenças do corpo, era uma débil mental, vindo a falecer pouco tempo depois. Decidimos manter a traça do mesmo e reabilitar o interior, dada a construção ser feita essencialmente em tabique e sustentada por grossas traves de madeira, embora dando-lhes o conforto moderno que ninguém presentemente dispensa, pois pertencera ao avô materno da Ana e queríamos respeitar o seu espírito original o mais possível.
 Decorámo-lo maioritariamente com peças de mobiliário reabilitado que também tínhamos herdado, ao qual adicionámos outro comprado para o efeito e eletrodomésticos a condizer, tal como lhe demos alguns pormenores de decoração com peças únicas de autor que se podem comprar (fotografias do meu primo António Guerra, pintura do Eduardo Carqueijeiro e cerâmica do Álvaro Portugal, um engenheiro e artista plástico nosso amigo, filho de um engenheiro com o mesmo nome e antigo colega de curso, conterrâneo e grande amigo do meu pai, já falecido). Em honra da minha sogra, Maria do Carmo, que aí tinha nascido, demos-lhe o nome de Carmo´s Residence Art Apartments, e fizemos dali um “AL” (Alojamento Local), tendo, para o efeito, construído um site com esse mesmo nome, concebido por mim e recheado de fotografias da minha própria autoria, com a ajuda do nosso amigo Álvaro Piteira, no qual apresentamos uma mensagem inicial aos hóspedes com a nossa foto (a que tínhamos tirado nas Maldivas antes de ter recebido a notícia da doença do Luís).
Decorámo-lo maioritariamente com peças de mobiliário reabilitado que também tínhamos herdado, ao qual adicionámos outro comprado para o efeito e eletrodomésticos a condizer, tal como lhe demos alguns pormenores de decoração com peças únicas de autor que se podem comprar (fotografias do meu primo António Guerra, pintura do Eduardo Carqueijeiro e cerâmica do Álvaro Portugal, um engenheiro e artista plástico nosso amigo, filho de um engenheiro com o mesmo nome e antigo colega de curso, conterrâneo e grande amigo do meu pai, já falecido). Em honra da minha sogra, Maria do Carmo, que aí tinha nascido, demos-lhe o nome de Carmo´s Residence Art Apartments, e fizemos dali um “AL” (Alojamento Local), tendo, para o efeito, construído um site com esse mesmo nome, concebido por mim e recheado de fotografias da minha própria autoria, com a ajuda do nosso amigo Álvaro Piteira, no qual apresentamos uma mensagem inicial aos hóspedes com a nossa foto (a que tínhamos tirado nas Maldivas antes de ter recebido a notícia da doença do Luís).
Um amigo e meu doente também, o José Coelho, Ex-Governador dos Clubes Rotários de Portugal e ex-Presidente do de Setúbal (anteriormente presidido por um rol imenso de colegas de profissão, entre os quais, Paulino Pereira, Serra Pinto, Mário Moura, Pardete Ferreira e José Campos), desafiou-me a fazer uma conferência sobre “Viagens e Turismo”, a que lhe respondi que não teria de repetir o repto por três vezes porque, se fizesse uma segunda, eu o aceitaria de imediato. E assim foi. Várias datas foram sucessivamente apontadas, acabando por ficar aprazada para o final de fevereiro do ano seguinte, duas semanas depois da Conferência Surpresa que tinha efetuado nas Jornadas onde homenageei o Luís Caldeira, a que já fiz referência. Disse, e foi depois confirmado por todos, que iria surpreender quem lá fosse. Tal como aconteceu de facto.
No restaurante onde habitualmente se reúnem os sócios desse Clube, casualmente situado no final da rua do bairro onde tenho a minha residência, o salão estava cheio de pessoas. Eu havia convidado algumas, desde amigos, colegas a familiares, entre os quais os meus compadres José e Alda Beatriz, a nossa afilhada Diana, enfermeira, os colegas Nuno Fachada, Paulo Coelho, Rui Monteiro e Rui Marques, o Manuel Roque, a Rosário Fonseca e a Célia Roque (da administração do Hospital de Setúbal), a minha “irmã brasileira”, Fátima Bacelar, bióloga e investigadora, já aposentada, e a futura Gestora dos Apartamentos, a Ana Rita, tal como o Fernando Fialho, meu amigo de infância, o Carlos Fernandes, funcionário de uma imobiliária, e outros. Depois da refeição e cumprido o cerimonial próprio da praxe deste tipo de iniciativas, havia que dar início à referida palestra, que foi introduzida, por coincidência, por um professor do ensino secundário, colega do meu irmão. Na realidade, anos antes, já aí havia proferido duas outras, de carácter estritamente científico e profissional, a primeira sobre “Doenças Infeciosas Emergentes”, e, a segunda, sobre a “Poliomielite”, dado que o “Rotary Internacional”, na sua ação filantrópica a nível mundial, é o maior contribuinte, a seguir à Organização Mundial de Saúde, para a futura possível extinção desta terrível doença. Bem como, há quatro anos, o mesmo clube teve ainda a amabilidade de me distinguir com o prémio “Profissional do Ano”.
O tema foi abordado em três vertentes, tendo a conferência durado pouco mais de uma hora: A primeira, inspirada no livro “A arte da Viagem” do grande escritor norte-americano Paul Theroux, segundo o qual existe uma diferença fundamental entre o turista e o viajante, consubstanciada naquilo que afirmou de forma lapidar “os turistas não ficam a saber onde estiveram e os viajantes não sabem para onde vão”. Ilustrei os diapositivos com fotografias, a partir de excertos de algumas das inúmeras viagens que já fiz com a Ana por diversos países de todos os continentes, com exceção da Austrália e da Antártida. Efetivamente, somos ambos cultores essencialmente da segunda tipologia, embora reconheçamos algumas virtualidades na primeira. Assim, recordei as que efetuei a New Orleans, à ilha do Príncipe, a Mombaça e a Zanzibar, ao Sri Lanka e às Maldivas, à Rota do Românico Português, aos Países Bálticos e a S. Petersburgo, a Istambul, aos territórios da denominada “Índia Portuguesa” (Goa, Damão, Diu e Nagar Aveli), a Malaca, ao Brasil, à Guiné, a Cabo Verde, à Polónia, a Marrocos, à República Dominicana e aos Estados Unidos da América do Norte, seguindo sempre, em cada uma delas, o propósito daquilo que foi afirmado, quer pelo psiquiatra e poeta francês, Paul Meunier, que escreveu “viajo para conhecer a minha geografia”, quer pelo escritor e ensaísta, também francês, Marcel Proust, que disse “a viagem da descoberta consiste não em achar novas paragens, mas em ver com novos olhos”.
De todas as que ali referi, gostaria de relembrar seis, por aquilo que significaram para a edificação do conjunto mais elevado de valores de que é formada a minha personalidade e dimensão cívica. Primeiramente, a que fizemos à Polónia, país que calcorreámos em grande parte de carro durante duas semanas, desde o final de outubro, até ao início de novembro, por vezes sob um ou outro discreto manto de neve, sem qualquer marcação prévia de hotel ou de restaurante, como gostamos de fazer sempre que é adequado em termos de segurança. Nela visitámos, entre outros locais, aquilo que se denomina de “Rota Copérnica”, o Museu do Massacre de Kathyn e, mais do que tudo, os principais locais e museus evocativos do Holocausto Nazi (designadamente Treblinka e Auschwitz). Depois, uma das muitas que fizemos aos Estados Unidos da América do Norte, em que estando em Washington, fomos ver, do Museu do Holocausto, uma exposição intitulada de “A Medicina da Morte”. De seguida, a realizada a Cabo Verde, em que visitei, sozinho, a Colónia Penal do Tarrafal, situada na ilha de S. Tiago, pois a Ana ficou adoentada no quarto do hotel. Também a que fizemos à Guiné-Bissau, onde ainda fui “dar uma mão” à Jamila Bathy, ex-especialista do meu Serviço e que foi para a sua terra natal com o propósito de dirigir um Hospital de Doenças Infeciosas, ligado à cooperação católica italiana, situado em Comura, nos arredores de Bissau. Nessa altura ela era docente de uma Faculdade de Medicina do Instituto Piaget na capital desse país. Antes da minha partida, perguntou-me se eu me importava de aí fazer uma Conferência enquanto lá estivesse, ao que respondi que teria o maior gosto. Perguntei-lhe qual seria o tema, ao que me disse, depois de consultar o Reitor, um médico guineense doutorado em biologia molecular na Suécia, que gostaria que fosse sobre “Ética”, o que era algo que já tinha efetuado antes, sob diversos prismas e por diversas vezes, pelo que tinha apenas que fazer uma síntese inteligível para a realidade que supunha ir encontrar.
Ao recordar-me das outras três viagens que anteriormente destaquei, comecei por fazer uma resenha da razão da origem da “Carta dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas”, o que, como é sabido, resultou da necessidade de dar resposta a todos os atropelos à dignidade humana decorrentes do que se tinha passado durante o período do nazismo (na Alemanha e fora dela), sobretudo no que dizia respeito aos Direitos Humanos e à Investigação Médica. Fiz, também, uma súmula de vários episódios ocorridos ao longo da história da Humanidade em que esta problemática esteve presente, destacando que alguns médicos judeus, por absurdo e em diversas ocasiões, nalguns Hospitais dos Estados Unidos da América, também tinham tido iniciativas altamente condenáveis do ponto de vista ético-deontológico, tal como a que decorreu em 1960, no “Jewish Chronic Disease Hospital”.
Antes de encerrar e de me colocar ao dispor dos docentes e dos discentes que assistiram (onde estavam quatro estudantes da Faculdade de Medicina da Beira Interior, alunos do meu colega e grande amigo, João luís Baptista, falecido recentemente, que estavam em Comura a realizar um estágio, e a enfermeira Cristina Rilhó, com quem tinha trabalhado no Hospital de Setúbal, e houvera descido de canoa ou feito rafting, durante uma dúzia consecutiva de anos, na companhia de outros colegas e amigos, na maior parte dos rios portugueses onde esses desportos se podem praticar, e que casualmente também aí estava a fazer voluntariado), não deixei de lamentar a contribuição dos portugueses para esse rol de atrocidades, designadamente no que se tinha passado nas prisões do regime ditatorial que tinha vigorado em Portugal durante quase meio século.
 Dei, como exemplo eloquente disso, o caso do médico do Tarrafal que, ao ver doentes a morrer com Tuberculose, com Febre Tifóide ou com Malária, dizia que “não tinha sido contratado para vir tratar de pessoas, mas antes para lhes passar certidões de óbito”, como aí se pode ver escrito numa placa situada no seu gabinete clínico, que ficava contíguo à própria morgue. No dia antes de regressar, ao visitar o Museu da Escravatura em Cacheu, perto da fronteira com o Senegal, não deixei de voltar a ser invadido pelo mesmo sentimento de “vergonha” e de “culpa” pelo que alguns dos “meus” antepassados haviam feito ao longo de séculos. O que, na minha opinião, em nada belisca, contudo, a grandiosidade da epopeia dos Descobrimentos, dado esses tempos deverem ser olhados à luz da mentalidade da época, mas sendo imperioso reconhecer, que são, desde há muitos anos a esta parte, completamente inaceitáveis para qualquer pessoa, independentemente do país, da condição social, da profissão, da idade, da etnia, do sexo, da opção política ou da religião que professar.
Dei, como exemplo eloquente disso, o caso do médico do Tarrafal que, ao ver doentes a morrer com Tuberculose, com Febre Tifóide ou com Malária, dizia que “não tinha sido contratado para vir tratar de pessoas, mas antes para lhes passar certidões de óbito”, como aí se pode ver escrito numa placa situada no seu gabinete clínico, que ficava contíguo à própria morgue. No dia antes de regressar, ao visitar o Museu da Escravatura em Cacheu, perto da fronteira com o Senegal, não deixei de voltar a ser invadido pelo mesmo sentimento de “vergonha” e de “culpa” pelo que alguns dos “meus” antepassados haviam feito ao longo de séculos. O que, na minha opinião, em nada belisca, contudo, a grandiosidade da epopeia dos Descobrimentos, dado esses tempos deverem ser olhados à luz da mentalidade da época, mas sendo imperioso reconhecer, que são, desde há muitos anos a esta parte, completamente inaceitáveis para qualquer pessoa, independentemente do país, da condição social, da profissão, da idade, da etnia, do sexo, da opção política ou da religião que professar.
As outras duas viagens, contei-as no meu livro “Ode ou Requem”. A primeira destas, a mais insólita que já fiz ou farei, foi com os meus sogros e a Ana, cerca de um mês antes do falecimento da Dª Maria do Carmo, organizada de rompante, quando esta já estava muito doente, sabendo nós que também gostava muito de visitar outras paragens. Fizemos um périplo de uma semana de carro por Portugal e por Espanha, onde visitamos os santuários de Guadalupe e de Fátima (onde a Ana tinha ido efetuar uma peregrinação em Maio desse mesmo ano), o que terá contribuído decisivamente, suponho, para a minha sogra interiorizar, com a maior tranquilidade possível, a ideia que o seu final de vida estaria próximo, dado ser uma fervorosa crente.
A última, foi a que fiz para ir de súbito ao Porto, no intuito de contribuir para aliviar ao limite do possível, o sofrimento que o meu tio Verdi iria ter no final de vida, dado ser um doente oncológico em fase muito avançada da doença. Sabia que este pretendia falecer no seu quarto e não num qualquer impessoal e frio corredor de hospital, pelo me deitei durante duas noites seguidas num colchão sobre o soalho do seu quarto, entre as duas camas do casal, embora sempre vigilante, pois pressenti muito claramente, ao telefone, falando com as suas filhas antes de partir, o momento em que se iria despedir deste mundo.
Apresentei, de seguida, o nosso Projeto de “AL”, “Carmo´s Residence Art Apartments”, onde a ideia primordial que prevaleceu, foi a de se ter concebido um espaço em que o sentimento de “estar em casa” fosse sentido desde a porta de entrada e em todos os compartimentos de cada um dos apartamentos, e que o mesmo perdurasse durante toda a estadia de quem venha a optar por ser “nosso” hóspede, para o que alguns pormenores poderão contribuir decisivamente, tais como o facto de aí poderem ser consumidos vinhos das casa Poças Júnior e Ermelinda de Freitas, bem como a cuidada decoração musical, para quem for apreciador (coletâneas de música portuguesa – de Fado e de Guitarra Portuguesa, a par de outras sobre música clássica instrumental, jazz, blues, country, soul, rock e bossa nova). Para além disto, fazemos a oferta de três presentes, dois à entrada (uma minigarrafa de vinho do Porto Poças Júnior e uma minigarrafa de vinho de mesa da casa Ermelinda de Freitas, em que o rótulo tem o símbolo da Carmo´s Residende Art Apartments) e, à saída, de uma concha com o mesmo monograma, pintada pela Ana Rita.
Finalizei, estabelecendo um paralelo entre o que significa ser médico e empresário turístico na nossa ótica, destacando que as condições de anfitrião e de cuidador são as que melhor aproximam esses dois conceitos. Um médico, no fundo, quando exerce clínica e recebe alguém que se dirige a si para ser consultado, o que terá de fazer não é mais do que ser um anfitrião, muito especial, é certo (no sentido de tal significar acolher, conformar e cuidar), porque a singular natureza do hóspede assim o determina, mas que, à semelhança do da outra vertente, tem de primar pela arte de bem receber e de ser capaz de entender bem as solicitações do doente, através desse ímpar relacionamento, fazendo o diagnóstico mais assertivo e propondo a mais adequada terapêutica possível em consonância com o mesmo, levando sempre em consideração as opiniões do próprio doente e sendo capaz de o fazer aceitar o prognóstico da sua doença, que lhe terá de explicar com a máxima inteligibilidade, empatia e espírito humanitário possíveis. Não terão, com as devidas e óbvias diferenças, é certo, o dono de um restaurante ou o “estalajadeiro”, de fazer algo que se assemelhe um pouco, para deixar o seu hóspede satisfeito e com vontade de voltar e de trazer os seus amigos e família também, quer ao servir uma refeição, quer ao aprontar os aposentos onde este irá ficar a pernoitar, pergunto?
Foi este espírito de gostar de bem receber que aprendi, quer com os meus tios, Margarida e Verdi Pedrosa, quer com os meus pais, quer também com os meus sogros (Sérgio e Maria do Carmo). Jamais esquecerei a enorme condescendência dos meus pais que, ao longo de toda a adolescência e, em especial, durante o período da Faculdade, toleraram que tanto o meu irmão, como sobretudo eu, transformássemos literalmente a “nossa” casa numa república de estudantes, como muitos poderão testemunhar, sobretudo a Ana e o meu compadre Ricardo. O orgulho dos meus pais em ter um filho futuro médico, foi ao ponto de, logo após o início dos estudos universitários, eu ter anunciado solenemente que iria convidar para jantar alguns dos meus colegas de faculdade oriundos das famílias mais distintas, pelo que solicitei à minha mãe que se aprimorasse no pitéu e, ao meu pai, que aceitasse colocar uma gravata, dada a suposta solenidade da ocasião, apesar de raramente o apreciar fazer. Nem repararam que eu não era, como não sou nem nunca serei, um cultor das aparências que considero mais balofas. Tal como, de resto, eles próprios e toda a restante família…
Qual não foi a surpresa, quando os convidados que entraram pela porta dentro, estavam muito modestamente vestidos e, em vez de andarem a cursar medicina, eram antes de modestíssima condição social, vivendo e trabalhando em Coina, na aldeia onde nessa altura vivíamos, e com quem eu jogava futebol e me encontrava, por vezes, no café. O que é mais espantoso, foi que não me criticaram à frente desses meus amigos de circunstância, o que os deixou radiantes de felicidade. Passámos o jantar a conversar, como se de uma refeição comemorativa se tratasse e, no final, até a minha mãe cantou fado, como por vezes fazia.
Dessa, tal como aquando dos inúmeros jantares que fizemos com a família Esteves (a Dª. Elisa, o Artur e o Francisco), por vezes com outros convidados estrangeiros, sem qualquer acompanhamento instrumental, o que não diminuía em quase nada a sua excelente capacidade vocal. Ou, noutras ocasiões, acompanhada à guitarra, quer pelo meu irmão, quer, mais frequentemente, pelo José Castro (também falecido dramaticamente há pouco tempo, como consequência de um tumor do cérebro, tal como o Max e o Taborda), colega da faculdade, nosso vizinho e grande amigo que lá ia muitas vezes, na companhia da Ester (sua esposa), da Ana e do Ricardo, quando nos juntávamos para estudar em época de exames.
Na minha família e, felizmente, na da Ana também, tal como nas que herdei colateralmente através dos casamentos dos meus dois filhos, a refeição à mesa, sobretudo nas alturas festivas, é um verdadeiro local de celebração e de catarse, onde se fazem verdadeiras viagens através das memórias das mesmas, aspeto didático para a educação das novas gerações (espero que, futuramente, dos nossos netos também, tal como aconteceu com os nossos filhos antes), na senda do que deixou dito o grande escritor russo, o prémio Nobel, Alexandre Soljenitsyne, que disse “deixa que a tua memória seja a tua mala de viagens”, ou o que sentenciou para a posteridade o grande filósofo e escritor alemão, Johann Gothe, que escreveu “a melhor educação para uma pessoa clarividente encontra-se na experiência de viajar”.
Dos vários exemplos de refeições que destaquei nessa Conferência, quase todas em nossa casa, e nas quais geralmente era eu a encarregar-me da confeção da comida, para ilustrar este conceito, citei:
- A que fiz, com a presença de todos os artífices e demais pessoas que nos ajudaram no Projeto Carmo´s Residence Art Apartments (o Fernando Magalhães, arquiteto, o Eduardo Correia, agente de viagens, a Cristina Coelho, jurista das finanças, o Jorge Lobo, decorador, o Armando Pires, construtor civil, o Luís Gonçalves, carpinteiro, o Júlio Gomes, empresário de acrílicos, o Álvaro Piteira, web designer, o Álvaro Portugal, o Miguel Carmo, contabilista, o Alexandre Batista, gestor bancário, o Victor Marques, agente de seguros, o Artur Esteves, vendedor, o José Quintino, gestor turístico e o Luis Gomes, informático), parte dos quais assistiram também à Conferência e têm uma página no site carmosresidence.com;
- As que fiz para comemorar o nascimento dos meus netos, onde convidei todos os colegas (pediatras, obstetras e anestesistas, para além dos avós e pais dos “rebentos”), entre outros, o Alejandro Martin, a Isabel Canelas, a Paula Teixeira, o Luís Varandas e o Ely Lousada, o obstetra da minha filha Joana, numa altura em que já estava recuperado de uma leucemia aguda, que foi naturalmente recebido com particular carinho por todos e o deixou felicíssimo;
- A festa dos meus 50 anos, efetuada na véspera de irmos de férias para a Costa Rica, onde convidei 50 pessoas e a quem ofereci uma garrafa de licor que eu próprio tinha levado 5 anos a aprimorar para o efeito. O seu rótulo continha a reprodução de um quadro oferecido pela minha cunhada Graça, onde se retratava a Ana enquanto suposta princesa à entrada de um castelo medieval, tendo o mesmo também sido utilizado, alguns anos mais tarde, como capa do meu livro “Ode ou Requiem”. Os meus amigos Fátima Bacelar e João Rosado, preparam-me uma agradabilíssima surpresa, que consistiu num diaporama que foi projetado, feito com base em fotografias minhas desde criança, selecionadas pela Ana, comentado e musicado, e que era como que uma biografia da minha pessoa, o que interpretei como sendo uma grande manifestação de ternura da parte dos seus autores. Esta foi a única destas refeições que não foi confecionada na minha casa por mim, pois, para ter tempo para desfrutar da companhia de todos os convidados numa data tão simbólica, solicitei que a mesma viesse do Restaurante “A Ribeirinha do Sado”, que é propriedade da Laurinha, nossa ex-colega do liceu, e do seu esposo, Fernando Fava, onde vamos com muita frequência;
- A festa de aniversário de uma sobrinha-neta Felipa, filha da Filipa, afilhada da Ana e filha do seu irmão, José Mendes, falecido de morte súbita quando conduzia, um ano antes, e para a qual organizei dois concertos. O primeiro, que deixou como que hipnotizada a aniversariante, foi o de um trio de música clássica (composto por flauta, harpa e violoncelo), liderado pela Eva, uma doente minha que me havia homenageado de surpresa na festa dos seus 60 anos, uns meses antes, o que me deixou particularmente emocionado, embora num curto gesto de agradecimento tenha dito, o que repito a cada passo em circunstâncias semelhantes: “nunca fiz nada aos meus doentes, a não ser aquilo que acho que qualquer médico deve fazer pelos seus. Ser diligente, disponível e competente, é uma obrigação ética, como se diz no Juramento de Hipócrates, palavras que, para mim, são para levar muito a sério”. O outro momento musical, que também deixou todos verdadeiramente encantados, foi protagonizado pelo Afonso Salazar, ao piano. O Afonso, a quem eu ofereço sempre uma boa maquia de CDs pelo Natal, para além de ser um jovem e muito promissor músico e de ter dois irmãos encantadores, é filho da Sandra e do Manuel Salazar, tal como já referi, este último, uma das personagens biografadas no meu Livro “Ode ou Requiem”, que faleceu dramaticamente, deixando os três filhos muito pequenos e a viúva cerca de 30 anos mais nova. A Matilde, a filha mais velha, para além de ser uma exímia artista plástica, já tinha sido doente da consulta de Terapia Familiar da Ana (tal como os restantes elementos) durante alguns meses, logo após o dramático falecimento do pai, razões pelo que se gerou, a partir desse infeliz acontecimento, uma ligação muito especial do ponto de vista emocional entre nós, o que nos faz convidá-los com alguma frequência para irem a nossa casa;
- O jantar que fiz, para toda a família e para os “pais americanos” dos meus filhos, o Tom e a Kathy Drooger (tal como já havia feito, por duas vezes, alguns anos antes, na sua própria casa quando os meus filhos lá estiveram a viver), no qual estiveram também presentes os seus cunhados e uns outros convidados originários da África do Sul, o Rui (um grande empresário português ali radicado desde há muitos anos, com forte atividade filantrópica relacionada com a prevenção e tratamento das doenças infeciosas mais prevalentes), e a Netty, sua esposa, que vieram para o casamento do nosso filho João. A seguir a este, partimos os seis numa viagem inesquecível pelo norte de Portugal. No mês seguinte, embarcámos nós para o Michigan, no intuito de assistir ao casamento da nossa filha Joana, que aí teve lugar. À chegada, e depois de dois dias de estadia em Chicago, aonde gosto muito de voltar sempre, ficámos uma noite na casa dos Drooger para lhes fazer uma visita e, no dia seguinte, irmos todos os membros das duas famílias dos noivos, para uma enorme casa alugada em cima de um dos muitos pequenos lagos que existem na região. À chegada, exclamaram, após o interregno daquele mês que mediou entre os dois casamentos: as férias que nós lhes havíamos proporcionado em digressão por Portugal, tinham sido as melhores que haviam tido na sua vida, somente “não me perdoando” o facto de os ter “tentado matar” com comida e bebida!!! No ano passado, quando voltaram de novo, desta vez por três semanas, a quantidade (e a qualidade…!!!) não foi menor e o Tom estava receoso que, ao regressar, dado ter tido um episódio de “morte súbita”, pela segunda vez, e de já ter efetuado uma cirurgia de derivação às coronárias uns anos antes, esses “excessos” fossem desequilibrar o seu peso e alterar substancialmente os resultados dos seus exames. Qual não foi a sua surpresa, quando o seu nutricionista e o internista que o acompanham regularmente, depois de chegar, lhe perguntaram o que é que tinha feito para estar tão bem como nunca tinha estado antes. Estive de férias em Portugal, exclamou. Quando mo disse ao telefone, eu respondi-lhe: “Tom, eu havia avisado que o teu remédio era dieta mediterrânea a sério”. Respondeu-me que pretendia voltar de novo, mas a pandemia não o permitiu ainda este ano, o que o tem feito lamentar-se muitas vezes ao telefone;
- O jantar que organizei com a presença dos meus colegas, Jorge Simões (ginecologista), Aurora (cirurgiã geral), e respetivos consortes, tal como com sua a irmã Antónia e o seu esposo. O motivo teve a ver com um pedido de ajuda para a tese de doutoramento da Antónia na área da Sociologia, porque esta tinha dissertado sobre a experiência dos prisioneiros do Tarrafal, servindo-se de escritos do seu avô, um velho anarcossindicalista do Barreiro, e de um grande amigo deste também, que ali tinham estado presos, tendo felizmente sobrevivido ao fim de um período de tortura que se prolongou por mais de 15 anos consecutivos. Nesses textos, existiam expressões médicas populares para designar as doenças que afetavam os presos, para o que a minha área de especialização foi tida como eventualmente útil. Revi aquela magnífica tese por duas vezes e fui assistir, na Universidade Nova de Lisboa, às brilhantes provas da Antónia com imenso gosto, tendo depois do referido jantar, passado um DVD feito a partir de um trabalho de investigação jornalística que tinha mandado vir de propósito da fundação Mário Soares, no qual eram entrevistados alguns sobreviventes, quase todos africanos, pois, a partir de finais da década de 50 do século XX, o Tarrafal tinha sido transformado numa prisão para resistentes nativos das ex-colónias da parte ocidental de África (Guiné e Angola, sobretudo). Alguns ainda visitam regularmente esse campo prisional, pelo que a analogia com o que vi em Auschwitz, é óbvia, embora com as devidas diferenças, não tendo, por isso mesmo, tal sentimento de incomodidade deixado de me assaltar o espírito quando dei a Conferência na Faculdade de Medicina do Instituto Piaget, a convite da Jamila;
- E, finalmente, o jantar que confecionei, no Brasil, em casa do meu primo-irmão brasileiro, o Alexandre Martins, num andar com uma enorme varanda sobre o Oceano Atlântico, na praia de Guarapari, no Estado de Espírito Santo, para a sua família e amigos, bem como para a do Vicente Bojovski, um macedónio, amigo do meu primo, casado com uma sírio-libanesa, dono do restaurante Guaramare, infelizmente já falecido, que tinha sido ele mesmo a construir e a decorar, sendo, para além disso um emérito chefe de cozinha, um artista plástico e poeta consagrado também, que me tinha gentilmente oferecido um jantar no seu famoso estabelecimento gastronómico, situado entre o mar e uma lagoa, especializado em marisco e peixe grelhado. Preparei uma sopa de cabeça de garoupa e um polvo à lagareiro (cozinhados que soube previamente nunca integrarem a sua afamada ementa), acompanhado com vinho português que fui comprar à bonita cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, e com um Porto Poças de 30 anos que tinha levado para oferecer ao meu primo, o que deixou o Grande Mestre completamente rendido, pois o ambiente de confraternização que se gerou, ao som das ondas do mar e da música tocada no violão do cunhado do Alexandre, foram de molde a nunca mais nos esquecermos deste inigualável momento.

A 6ª História– Confrontados com quase um ano de confinamento por causa de uma inesperada e mais do que incómoda pandemia, havia que ter a maleabilidade mental e a responsabilidade para alterar a planificação dos vários períodos de férias que prevíamos fazer neste ano de 2020. Assim, em vez de irmos uma semana para Inglaterra para passear com o João e a Sara, uma outra semana, para passear pelo Algonquin National Park, situado na Província de Ontário, no Canada, com os Drooger, ainda outra em Porto Santo com os netos, e ir passar as tradicionais duas semanas de novembro nas ilhas Maurícias, acabámos por fazer todos os períodos disponíveis em Portugal. Os locais foram escolhidos com a preocupação de fugir às zonas mais movimentadas e supostamente problemáticas de pandemia. Primeiro, fomos sozinhos, durante uma semana, para as Casas do Coro, em Marialva, outra com os filhos, netos e os compadres da família Beatriz, para o hotel Palácio da Lousã, e, as duas semanas em que ainda tínhamos programado ir fazer o roteiro Judaico Português com os meus cunhados Isabel e Francisco, ficaram adiadas, pois eu fiquei proibido de as gozar no Hospital onde trabalho, num ano em que precisava delas mais do que nunca, ao contrário do que se passou com a Ana. Por essa mesma razão, prometi-lhe ir passar fora os correspondentes três fins-de-semana, saindo na 6ª Fª depois de almoço e regressando 2ª Fª de manhã cedo.
Assim, estivemos, primeiro, no Hotel Sublime Comporta, ao pé do Carvalhal, depois, no Hotel Convento do Espinheiro, em Évora e, por último, no Hotel Casa de Palmela, à saída de Setúbal, quando já nem do concelho havia autorização legal para se poder sair. Quase que adivinhando que as férias me iriam ser proibidas, fizemos ainda, entre junho e outubro, quatro outros fins-de-semana prolongados, primeiro, no Hotel Rio do Prado, entre a Lagoa de Óbidos e a Foz do Arelho, depois, na Casa Verde, em Ferreira de Alentejo, dos nossos grandes amigos Fernando e Margarida Magalhães, aonde vamos todos os anos, de seguida, no Hotel Vínico Cabeças do Reguengo do enólogo João Afonso, na serra de S. Mamede, e, o último, nas Casas do Moinho, em Odeceixe. Embora conheça muito bem o meu País e tenha geralmente o cuidado de escolher bem onde vou ficar hospedado, privilegiando o conforto, o enquadramento histórico e paisagístico e a identidade das pequenas unidades hoteleiras, tal como a qualidade dos restaurantes que possam existir, em detrimento do seu tamanho, da fama ou do número de estrelas apenas, tenho de confessar que as que fiz questão de aqui nomear foram todas opções de exceção, correspondendo plenamente aos atributos que defini na história anterior e que nos motivaram a idealizar o Projeto Carmo´s Residence Art Apartments.
Sendo injusto, por isso mesmo, destacar qualquer uma delas, facilmente se poderá intuir que o da Serra da Lousã, pelo facto de poder reunir, pela primeira vez, a família mais chegada, em tempos tão conturbados, teve um sabor especial, tal como o Hotel Casa de Palmela, pelo facto de aí termos celebrado os 38 anos de casados num ambiente particularmente acolhedor, nessa altura já com a clássica decoração de Natal. O seu dono veio-nos cumprimentar, quando estávamos a almoçar logo depois do check-in, agradecendo-nos a coragem de andarmos a viajar em tempos de pandemia, ao que lhe respondemos que vivíamos muito perto, o que o deixou bastante curioso acerca dos motivos da mesma. Ao explicar-lhe a razão, que o surpreendeu, também lhe dissemos que eramos amigos do Vassalo, filho mais velho do casal de antigos feitores da quinta, pelo que os pusemos em contacto telefónico, o que os encheu de alegria, dado terem ambos perdido o rasto um do outro, havia muito tempo.
Contudo, o que pretendia verdadeiramente destacar foi “apenas” um simples pormenor que jamais me poderia ficar despercebido e que tem a ver precisamente com o que pretendo transmitir com este paralelismo entre a atividade turística e a medicina, à luz dos princípios já enunciados e que, no fundo, se pode subentender naquilo que Roy Goodman, um escritor Sul-Africano, terá querido aludir quando afirmou “lembra-te que a felicidade é uma forma de viagem, mas não apenas o seu destino”. Quantas vezes o trajeto de vida de uma pessoa, que no fundo se poderá assemelhar a uma viagem no planeta onde habita, quando a mesma pensa ter atingido um raro momento de felicidade e pretendendo que o mesmo perdure eternamente, ao acordar desse “sonho” e ao cair na realidade, não se vem a deparar, de seguida, com algum imprevisto evento relacionado com a sua saúde, com implicações relevantes e mais ou menos irreversíveis e duradouras em aspetos fundamentais da sua qualidade de vida, como a autonomia, ou mesmo a noção da sua própria finitude, consciencializando-se, assim, da intrínseca fragilidade da condição humana?
As Casas do Moinho, que já referi, têm, na realidade, uma localização espantosa, são extremamente confortáveis e possuem dois excelentes restaurantes. No dia em que saímos, no intuito de ir almoçar com o meu colega Weiner Santos num restaurante na Zambujeira do Mar, após o que rumaríamos a casa, havia naturalmente que fazer o check-out, depois de tomarmos o habitual magnífico pequeno-almoço e de arrumarmos as malas no carro. Já havia falado um pouco com o seu proprietário, ficando a saber que era natural do Porto, como eu, amigo do dono do Restaurante “Los Ibéricos” em Leça da Palmeira, aonde vou amiúde com os meus primos, amigos e colegas, e este havia decidido, meia-dúzia de anos antes, alienar as firmas que tinha, tal como as que herdara da família, de um ramo de negócio que nada tinha a ver com turismo, e partir para Odeceixe, no intuito de aí se fixar com a sua esposa e os seus filhos, e de dar finalmente inicio ao seu ambicionado projeto turístico. Disse-lhe, em conversa, num dos jantares, mesmo apesar de saber que o negócio estava a corresponder plenamente às suas expectativas, gostando muito da quietude da aldeia, em contraste com o buliço cada vez mais insuportável da cidade, que o cumprimentava pela temeridade de sua decisão e que lhe desejava a continuação dos maiores êxitos pessoais.
Ao pagar a conta, decidi dar-lhe um cartão meu, como muitas vezes faço, em retribuição da sua gentileza e também da do dono do outro restaurante. Ao reparar que eu era médico, perguntou-me se eu me lembrava do rapaz que me havia servido à mesa, ao que respondi que sim, que o tinha achado muito eficiente e simpático. Com um olhar a brilhar de orgulho, disse-me que era o mais velho dos seus filhos, e que ajudava voluntariamente os pais nas atividades do alojamento e do restaurante, sendo o melhor aluno do 12º ano da escola secundária de Aljezur, já havendo garantido uma bolsa de estudo dada pela edilidade local, pretendendo vir a tirar o curso de medicina.
Foi aí que lhe afirmei que se isso se viesse a concretizar e se necessitasse de alguma orientação, me poderia contactar, sugerindo que o mesmo consultasse o meu site josepocas.com. Ao despedir-me, esclareci que as duas atividades, medicina e turismo, tinham pontos em comum, exigindo uma rara disponibilidade e dedicação, pelo que o seu filho se deveria preparar psicologicamente para ter de passar uma vida a estudar, tendo de aturar a cada vez mais infernal e asfixiante burocracia, bem como a incompreensão reinante pela maior parte dos políticos e dos gestores acerca do que é verdadeiramente “Um Médico”. Mas que apesar de todas essas e de outras contrariedades mais, continuava a considerá-la a mais bonitas das profissões, na qual o retorno afetivo provocado pela genuína gratidão dos doentes e o sentimento de os ter podido ajudar, quase que fazia esquecer os inúmeros aspetos negativos com que somos diariamente confrontados.
Foi com este sentir a profissão que escolhi, que me desloquei uma certa vez ao Porto, tendo aí chegado pouco depois das 2.00h da madrugada, pois tinha ficado a saber que a minha tia Margarida teria sido internada por causa de uma pneumonia. Com quase noventa anos, acamada em sua casa há alguns anos, com sequelas muito graves de uma poliomielite que contraíra quando estava grávida da minha prima Milu e que lhe tinha atingido o hemicorpo esquerdo, pensei que não iria resistir. Senti uma pulsão súbita que me impelia a ir vê-la. Eu e Ana entrámos no carro uns quantos minutos antes da meia-noite, depois de termos feito apressadamente uma mala. Quando cheguei ao pé dela, já madrugada bem dentro, estava ofegante no meio de uma enfermaria de seis camas, situada num pavilhão com condições hoteleiras deploráveis, pertencente ao serviço de Medicina Interna dirigido pelo meu colega e amigo Rosas Vieira, que já anteriormente tinha apoiado o meu tio Verdi.
Não sei explicar como resistiu estoicamente, ao ponto de, ainda hoje, passados meia-dúzia de anos e com quase um século de existência, ainda viver em sua casa, no conforto do seu quarto e na sua própria cama, rodeada pela família e por dedicadas empregadas. A forma como o seu olhar se transmutou na penumbra da noite, quando lá cheguei, jamais o poderei esquecer. Apenas vislumbrei uma ténue faísca a brilhar refletida na pupila de um dos seus olhos, como se de uma impercetível súplica se tratasse, tendo-a ouvido balbuciar, com notória dificuldade, algo que senti como um violento estrondo no meu coração: “tu, aqui, agora?”. Talvez o mesmo que terá pensado quando, cerca de dez anos antes, a surpreendi também, ao chegar ao pé do meu tio Verdi. Só que, desta vez, não haveria maneira de me deitar ali no chão, ao seu lado, qual guardião do templo familiar, como poderá ter pensado e me apetecia fazer de imediato.
Foi também com esse mesmo espírito que visitei o Fernando, depois de cerca de um mês de ausência, período em que “apenas” lhe telefonava semanalmente, cujo caso clínico contei no artigo anterior, escrito e publicado nessa altura, intitulado “Saúde, Doença e Economia em tempos de Pandemia: Reflexões a partir de duas histórias, duas comemorações virtuais, seis sentidas dedicatórias e uma dúzia de missivas”, no qual pretendia, ao fazê-lo, chamar a atenção para a realidade dos doentes com outras patologias “não COVID”.
O Fernando padece, desde há menos de um ano, de uma esclerose lateral amiotrófica que tem evoluído vertiginosamente desde que o visitei a primeira vez. Nesta primeira visita da segunda fase, ao contrário das duas anteriores, estava sozinho, apenas com o seu gato de estimação aos seus pés. O facto de a empregada estar na cozinha e nós na sala, não retirou intimidade ao nosso diálogo, feito tanto de palavas, como de silêncios, tal como o que fica subentendido daquilo que ficou exarado para a posteridade, quer pelo filósofo alemão, Ludwig Wittgenstein, quer pelo poeta grego, Eurípides, quando estes dois génios do pensamento universal declaram, com quase dois milénios de intervalo, respetivamente, “o que se pode dizer pode ser dito claramente, e aquilo que se não pode falar tem de ficar no silêncio”, e, “fala se tens palavras mais fortes do que o silêncio, ou então guarda silêncio”.
Tenho uma convicção cada vez mais fundamentada que o médico deve ir atrás das ideias que o doente, explícita ou implicitamente, vai sugerindo como tema de conversa, de modo a que nenhum assunto possa ser tabu em circunstâncias desta natureza. Nada deve ficar por abordar que seja da sua vontade. Já sob auxílio ventilatório durante o período noturno, primeiro, tinha começado a utilizar também esse dispositivo há pouco tempo, no intuito de poder ganhar o fôlego que lhe permitisse ter um discurso mais fluido sem se cansar tanto. Falou-me, tanto dos seus sonhos, como dos pesadelos, bem como da importância de ter sempre por perto um fiel animal de companhia. Expressou-me que poder falar à vontade desta maneira, embora não fosse sobre assuntos prazerosos, acabava por ser libertador e aliviava um pouco a sua angústia existencial. Disse-me que sentia um particular gosto em desenhar, pois tinha-se licenciado recentemente em arquitetura, depois de exercer, durante anos, a atividade de engenheiro civil, mas que ainda não havia encontrado a maneira de o fazer com prazer, utilizando o computador que acionava com o seu próprio olhar.
Confessou que estava a aprender a viver de uma outra maneira quando se confrontava consigo mesmo de forma solitária, como se já tivesse lido o que o poeta e escritor austríaco, Rainer Maria Rilke sentenciou, ao deixar dito “a única viagem é a interior”. Concordou comigo quando lhe disse que a dor e o sofrimento só têm verdadeira dimensão e sentido quando deles temos consciência, pois, caso contrário, o pior será mais para os circundantes que nos querem, do que para nós mesmos. Também comentei que, embora o médico tenha a obrigação de fazer um esforço por se colocar na posição do seu doente, para poder ter uma noção o mais aproximada possível das implicações das suas decisões, ninguém poderá dizer que tem a certeza de nada, sem ter tido uma experiência idêntica e real, e, não apenas, por interposta pessoa.
Os seus filhos retornaram, entretanto, à casa paterna, vindos de fora, para passarem as festas da época natalícia em conjunto com ele, pouco tempo antes de me despedir, combinando voltar na próxima semana, pois tinha um outro compromisso já agendado daí a poucos minutos.
No segundo encontro, disse-me que ainda tinha apenas começado a olhar para o meu escrito, mas que o seu filho já lhe tinha começado a ler a introdução, que tinha apreciado muito. Este acompanhou-o o tempo todo em que ali estivemos a conversar. Essa presença, tal como pude verificar, não lhe retirou qualquer ponta de espontaneidade. Aqui e acolá houve, inclusive, espaço para alguns mal disfarçados sorrisos e, mesmo, para discretas gargalhadas menos contidas. Disse-me, enquanto o filho lhe fazia algumas carícias num dos braços, que notava uma grande variabilidade de humor, sendo este um dos dias menos maus. Constatou que, se a progressão da doença ia indiscutivelmente no sentido de um agravamento global, tal não se verificava em todos os aspetos, sendo também patente que existiam certos pormenores em que considerava estar a melhorar, o que considerou, por um lado, um mistério, mas admitindo também que talvez tivesse a ver com os exercícios físicos que tinha, entretanto, recomeçado a fazer e com os aspetos psicológicos envolventes. As células estarão a morrer ou “apenas” a ficar atrofiadas na função, questionou-me. Ao que lhe respondi, estava a sua filha a voltar a casa, que o fenómeno seria mais próximo da segunda hipótese.
Disse-lhe que seria bom gozar da presença dos filhos nesta quadra festiva, mas que era importante buscar outras fontes de interesse. Acrescentei que conhecia várias pessoas que, ao verem-se confrontadas com algo de inesperado, capaz de lhes alterar substancialmente o seu curso de vida, fosse por intercorrências agradáveis ou desagradáveis, mas nunca indiferentes, haviam decidido começar a escrever, no sentido de poderem digerir melhor as consequências desse evento, partilhando-o posteriormente com outrem, o que acabava por ter um indiscutível valor terapêutico. Curiosamente, disse-me que concordava, e, com uma expressão algo matreira, até confessou que já tinha começado a escrever, com a ajuda de outra pessoa, algo acerca do curioso tema da “Arquitetura do Amor”, ao que lhe recomendei que continuasse e que se impusesse a colocar metas sucessivas nesse percurso, no sentido de se automotivar.
Fiquei a saber que ainda saía à rua sempre que podia, embora reconhecesse que o inverno não ajudava a concretizar esse enorme gosto. Fico muito tempo nesta sala, mesmo apesar de ter condições de conforto que outros não têm, reconheceu. Lamentou-se bastante da má experiência recente, vivida quando teve de recorrer ao Serviço de Urgência do Hospital de Setúbal, concluindo que iria fazer todo o possível por não ter de aí voltar de novo, tão cedo.
A certa altura, exclamou que admitia afinal que talvez a sua doença se viesse a arrastar ainda por longos meses, não sendo capaz de dizer, se isso seria bom ou mau, mas colocando a hipótese de vir a fartar-se de vez da sua situação, pelo que considerou que, nesse eventual cenário, quando não houvesse mais nada que o motivasse a lutar contra a doença, talvez viesse a considerar a hipótese de solicitar ajuda para abreviar o seu fim. Não quis fugir ao repto, e perguntei-lhe, frontalmente, se se referia ao que habitualmente se denomina por eutanásia. Respondeu-me que sim, mas que ainda não tinha uma ideia completamente formada e definitiva. Acrescentei que já tinha pensado muito sobre essa questão e que até já tinha escrito um texto onde expressava a minha opinião, intitulado “Reflexões à volta da vida, do sofrimento, da morte e da imortalidade” que, à semelhança do presente, lho poderia remeter também. Contextualizei que, a intenção de estar a escrever algo sobre ele, tal como a visitá-lo na sua casa, quando não era o seu médico direto, era fundamentalmente porque pressentia existir nele a genuína vontade de ter um interlocutor para expressar o que lhe ia na alma, e que conseguisse ir para além do estéril monólogo solitário com que se confrontava em certos momentos. Nenhum assunto deverá ficar por tratar, seja de que natureza for, concluí.
Antes de me despedir, disse-lhe que lhe iria remeter a versão final deste texto, para que me informasse se autorizava, ou não, a sua eventual publicação, aprazando uma nova visita para a semana seguinte. Amanhã irei ser vacinado contra a COVID, exclamei, o que é um sinal de esperança. E, que este é mesmo o sentimento que nunca nos deve abandonar, sob pena de nada ter jamais sentido para um Ser Humano. Tal é, a última e mais nobre missão do Médico. Mesmo quando tudo parece estar perdido, afirmei convictamente. Como exemplifiquei em algumas das histórias do meu livro “Ode ou Requiem”, se alguém desiste de querer viver, o prognóstico da doença é bem pior. Quando se quer viver a todo o custo, por vezes, até conseguimos ultrapassar doenças com um prognóstico, à partida, muito pior. Ao sair, ainda tive tempo para lhe dizer que achava que iria certamente continuar a escrever sobre o nosso relacionamento, pois sentia que o mesmo não havia chegado ainda ao fim, e que até tinha tomado nesse mesmo dia a decisão de publicar um livro, a que pensava dar o título de “A relação humana na prática médica: histórias do antes e no decurso da pandemia”, baseado nos textos que já escrevi depois de ter lançado o livro da Ordem dos Médicos e, sobretudo, durante os sucessivos confinamentos, rematei.
III)- Considerações Finais
“Não é no espelho que devemos observar-nos. Homens, contemplem-se no papel” (Henri Michaux, escritor e pintor belga, 1899-1984)
“Não se consegue dar valor à vida sem passar pelo medo de perdê-la” (Miguel Esteves Cardoso, escritor e jornalista português, 1955- )
“Os factos devem provar a bondade das palavras” (Séneca, filósofo romano, 4 AC – 65 DC)
“Ao quebrar o silêncio a linguagem realiza o que o silêncio pretendia e não conseguia obter” (Maurice Marleau-Ponty, filósofo francês, 1908-1961)
Nunca um assunto me motivou tanto a escrever, quanto esta pandemia. Como disse no outro dia aos meus colaboradores, numa reunião de Serviço, acho que, quando ela passar e pudermos voltar a aproximarmo-nos dos padrões de vida e de comportamento que tínhamos antes da pandemia, iremos chegar à conclusão que nos transformámos em pessoas algo diferentes. Não que devamos abandonar os três pilares fundamentais da nossa civilização (liberdade, solidariedade e responsabilidade), mas teremos certamente uma outra perspetiva do mundo e da vida, pela necessária consciência da nossa imensa vulnerabilidade perante as forças da natureza, mesmo apesar do inegável desenvolvimento tecnológico e científico de que dispomos atualmente. Nada pode ser dado como definitivo, pois as dúvidas acerca do futuro próximo serão uma constante do nosso quotidiano com que temos de aprender a conviver, como escrevi no artigo “Incertezas e Indecisões: reflexão pessoal, como mote de uma homenagem a três colegas, a propósito do lado humano da pandemia SARS CoV-2”.
Teremos também de interiorizar que, como disse o grande escritor alemão, Thomas Mann “o interesse pela doença e pela morte é apenas outra expressão do interesse pela vida” porque, como sentenciou o poeta português Manuel Alegre, “vivemos num tempo sem tempo”, sendo decisivo recuperar os valores perenes do humanismo, sobretudo no exercício da Medicina, dado que, para além de tudo, como escreveu o artista português Cruzeiro Seixas, recentemente falecido, “o que interessa é ser-se uma pessoa, um ser humano”, muito mais do que tudo o resto. Por isso, a Medicina deve continuar a basear-se num tripé de valores intemporais (a ética, a empatia e a confiança), tal como escrevi no artigo “A relação Médico-Doente, uma relação ímpar assente em três incontornáveis pilares”.
A perspetiva de ter que passar o Natal deste ano sem a presença da minha mãe (residente no Lar dos Professores em Setúbal), afastado dos meus filhos e netos, apenas com a Ana e o meu irmão, a nossa cunhada (a Graça), o nosso sobrinho (o Joãozinho) e a nossa afilhada (a Diana), numa refeição, com os meus cunhados Isabel e Francisco, na seguinte, e os amigos, Helena e Jacinto, na última, fez-me agudizar certamente aquele sentimento de impotência e de resignação assumida perante a necessidade de abdicar do que sempre foi uma longínqua tradição familiar, na suposição de que tal acabará por ser um genuíno e necessário contributo para vencermos a atual pandemia. Mesmo apesar destas adversidades, reuni as energias necessárias para cozinhar uma consoada (bacalhau cozido, roupa velha e peru recheado, como sempre se fez na minha família), pratos acompanhados por vinhos espanhóis, chilenos, argentinos, uruguaios, franceses e turcos e ao som de uma cuidada seleção de música de Natal interpretada por diversos músicos e cantores oriundos de várias tradições musicais, pois tal simbolizou, em parte, o prazer de viajar por terras distantes, qual decisivo retorno à “normalidade”.
Que assim seja, de facto, porque, tanto como as relações entre dois amantes, amigos ou familiares, as que se edificam entre o médico e o seu doente, necessitam da proximidade humana, do toque, do abraço, do choro, do sorriso, do olhar, do odor, da palavra e, por vezes, do indispensável silêncio. Como corolário deste sentimento, ao deixar, na manhã do dia 24 de dezembro, este texto à minha filha Joana e aos meus netos, como prenda de Natal, escrevi, numa sentida dedicatória “esta é a minha maneira de estar hoje presente ao vosso lado”.
 NOTAS EXPLICATIVAS: Todas as pessoas aqui referidas deram o seu consentimento explícito para o efeito da publicação deste texto, designadamente a Aldina Gomez, a Maria Leonor, a Fátima Caeiro, o Luís Vilhena, a Maria José Melo, a Isabel Marques da Silva, a Ester Carvalho, o Ely Lousada e o Fernando Silva, a quem estou imensamente grato. Agradeço, ainda, a todos os que decidi mencionar no mesmo, por terem intervindo tal como está relatado, em especial à Ana, o grande amor da minha vida.
NOTAS EXPLICATIVAS: Todas as pessoas aqui referidas deram o seu consentimento explícito para o efeito da publicação deste texto, designadamente a Aldina Gomez, a Maria Leonor, a Fátima Caeiro, o Luís Vilhena, a Maria José Melo, a Isabel Marques da Silva, a Ester Carvalho, o Ely Lousada e o Fernando Silva, a quem estou imensamente grato. Agradeço, ainda, a todos os que decidi mencionar no mesmo, por terem intervindo tal como está relatado, em especial à Ana, o grande amor da minha vida.
Dado vivermos num tempo em que se dá cada vez mais valor às aparências em vez de aos conteúdos, desvalorizando, nuns casos, a importância da personalidade de determinadas pessoas, ou tirando partido excessivo do seu mediatismo, noutros, achei eticamente obrigatório referir todos os nomes de cada um dos intervenientes, pois passam a ser testemunhas daquilo que pretendo transmitir, o que os torna cúmplices da mensagem aqui expressa, uma vez que cada pessoa se pode imortalizar também através da memória expressa por outrem.
Misturar assuntos de transcendente importância com outros “aparentemente” mais vulgares, introduzindo, aqui e acolá uma pitada de humor, não é faltar ao respeito a nada nem a ninguém, mas antes o reconhecimento factual que a vida das pessoas é feita, na realidade, de uma única mescla de situações e de sentimentos, planeados ou imprevistos, por vezes mesmo de sentido antagónico, não importa, mas que assumirão modos sempre diferentes, consoante as pessoas, as circunstâncias ou as épocas em causa, sem nunca se repetirem inteiramente.
Aproximar o substrato conceptual de atividades tão diversas de uma sociedade como fiz, é atrever-me a lembrar que todas as profissões são determinantes para qualquer país ou povo, e que os valores com que devem ser exercidas, podem até ter muitas semelhanças do ponto de vista da deontologia, porque todas contribuem, a seu modo, para a realização da felicidade e do prazer dos indivíduos, condicionantes sem as quais o sentido da vida se perderá para uma boa parte da Humanidade. Tal como penso que corremos o risco de isso poder acontecer, se o enquadramento das implicações da atual pandemia, não encontrar uma base sólida de valores de índole científica e ética onde se possa basear um debate de ideias sério e sereno que se impõe efetuar, muito para lá do interesse particular de grupos, de pessoas, de instituições, ou de índole político-partidária, como por vezes, infelizmente, tem acontecido.
Por fim, endereçar um agradecimento muito grande à minha eterna revisora de textos, Conceição Crispim, professora de Português, que__ iniciou os meus filhos nas artes dramáticas e, para além do mais, minha grande amiga de longa data, sendo idêntico reconhecimento devido de igual forma ao meu colega e amigo, Nelson Duarte.