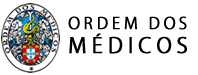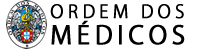Autor: M.M. Camilo Sequeira, Médico aposentado
Vivemos hoje em democracia e julgo que a muito grande maioria de nós acredita que este é o sistema de gestão da vida colectiva que melhor se adapta ao específico dos seres que somos.
É este contexto que permite o reconhecimento de direitos a todos os humanos e de entre estes, desde há alguns anos, o direito de partilhar com o seu Médico cuidador, até então tido como decisor absoluto, a decisão de ser tratado desta ou daquela forma.
Também em relação a este novo direito parece haver (quase) unanimidade em o reconhecer como um avanço da democracia. Como esta exige, ou melhor, como esta tem como princípio orientador a responsabilização de cada cidadão em abstracto, entende-se que é direito do cidadão doente, partilhar negociar, as decisões consideradas como adequadas à sua realidade patológica. Quer sobre uma agressão terapêutica quer sobre os planos de investigação clínica porquanto ambos são, por excelência, exercícios de responsabilidade.
A democracia é, de facto, um valor que acarreta o aumento sistemático dos poderes e dos deveres de cada um dos seus usufrutuários. Sendo estes, poder e dever, “em relação à assistência clínica” um seu exemplo relevante porque envolve a vida.
E parece ter todo o sentido (ou será politicamente correcto?) permitir que alguém que carece de ajuda clínica diga o que aceita e o que recusa fazer em relação ao problema que o faz procurar essa ajuda. Parece! Porque julgo que na realidade assistencial, no não teórico, já não será tão óbvio que assim seja.
Fui Médico com funções predominantemente assistenciais e autonomia relativa durante mais de 40 anos. Enquanto tive doentes para cuidar não tenho memória de pensar neste tipo de problemas quando procurava bem-fazer a minha obrigação. Mas hoje, aposentado, penso bastante no assunto e, para o melhor e o pior, faço-o sempre em função das minhas vivências profissionais. Que foram sempre reflectidas e por vezes discutidas com outros parceiros. Foram ainda, muitas vezes, senão sempre, apreciadas em função do específico que imaginava encontrar Doente a Doente (com maiúsculas).
E que foram diversificadas: fiz urgência vários anos ou numa Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios ou na urgência geral; fiz Enfermaria e consulta de Medicina Interna; trabalhei em Oncologia e em Saúde Mental e fiz Perícia Médica. É neste contexto muito vivido que me interrogo sobre onde existiu a decisão partilhada com doentes que, no essencial, julgo terem sentido apoio adequado nos meus cuidados.
Porque não estamos a falar de diálogo informativo sobre uma determinada patologia ou sobre a interpretação de um conjunto de sinais, mais ou menos mal precisados, feita pelo Médico e que o Doente aceita como muito provavelmente correcta.
Pois, afirmemo-lo de forma precisa, enquadrar as queixas numa específica entidade nosológica ou fazê-lo como afirmação de competência privilegiada para interpretar sinais é a base elementar da clínica assistencial que só por absurdo se poderá considerar como partilha de decisão. E é assim mesmo que ocasionalmente possa ocorrer uma coincidência entre a interpretação de um e a expectativa de outro. Uma coincidência não é uma norma.
Aliás de acordo com as regras de convivialidade de um tempo recente. De facto há poucos anos ter uma profissão significava possuir-se um exclusivo de competência para a exercer de forma autónoma. Sabia-se o que era a profissão e também se conheciam os tipos de saberes que ela acarretava. E cada um de nós utilizava a competência em causa sem nos interrogarmos sobre se a confiança no trabalhador era ou não justificada. Assumia-se que sim porque se tinha a profissão acreditada era por a ter aprendido e porque alguém qualificado a tinha validado e se a vendia aos outros cidadãos era porque estava autorizado a fazê-lo.
Não se discutia com o Piloto do avião as suas escolhas de comando, não se discutia com o Juiz a sua interpretação da Lei, não se discutia com o Electricista a planta eléctrica de um edifício, não se discutia com o Serralheiro a forma como escolhia e talhava os materiais com que trabalhava e não se discutia com o Médico a sua proposta de investigação clínica ou o seu projecto terapêutico.
E era assim não por se concordar cegamente com isso, mas antes por se entender que a cada profissão correspondia uma competência que não era partilhável com as outras. Podia-se conversar sobre a competência mas não se esperava partilhá-la em termos de decisão.
O que nunca significou que não se pudessem discutir opções. Claro que sim embora mais numas profissões que noutras. Havia, como padrão da normalidade relacional, a procura de informação, a tentativa de esclarecer o sentido do proposto ou decidido, enfim, tinha-se como propósito humanizar as relações através de uma aprendizagem que se considerava como fazendo parte dessa relação.
Este princípio não perdia valor pelo facto de a estratificação social criar cidadãos de primeira e outros. Os defeitos da vida colectiva não anulam os valores da partilha possível em quem sempre acreditou na democracia vivendo ou não nela. A humanização queria ser regra embora sem experiência de partilha de decisões. A humanização mostrava-se antes na busca de esclarecimentos que permitissem melhor compreender a decisão de autoridade de quem, por definição, era suposto tê-la.
Também era assim no exercício clínico assistencial.
Primum non nocere
- Medicina Interna
Não tenho memória de em urgência ser confrontado com dúvidas sobre os procedimentos que entendia correctos. Embora tenha memória de “depois desses procedimentos” e algumas vezes após libertos do ventilador os Doentes quererem dialogar sobre o que se tinha passado que justificara a agressão terapêutica, sobre o significado da patologia em tratamento, sobre o prognóstico e o tempo de recuperação daquele sofrimento. Mas sem qualquer tipo de discussão sobre o bom ou mau procedimento realizado ou sobre o que o Doente pretendia que fosse feito a partir daquele tempo dialogado. Esclarecer o Doente mantendo-o informado sobre o raciocinar clínico e sobre o expectável desse raciocínio é pura e simplesmente exercer clínica nada tendo que ver com partilha de decisão quanto a esse exercício.
E em Enfermaria onde o tempo era mais longo e o contacto mais próximo de uma relação social também a decisão clínica não era partilhada. O Doente era informado sobre o que se pretendia fazer com os planos de investigação ou de tratamento, era ou tentava-se que fosse aliviado da sensação de incerteza sobre o seu futuro que o internamento acarreta através de cordialidade relacional, pela interacção com os parceiros cuidadores e até por algum paternalismo, que se pretendia não infantilizador, considerado como útil àquele Doente em particular. Este conversar era, mais uma vez, puro exercício clínico pelo que também nestas circunstâncias se pode afirmar que ao Doente não era oferecido espaço para aceitar ou recusar as medidas propostas pelo Médico.
Mormente porque se as recusasse isso implicava que o Médico se teria de disponibilizar para lhe fazer um tratamento desadequado, sem suporte científico. Ou então teria de recusar (?) tratar esse Doente. Mas como o poderia fazer se o seu compromisso é sempre tratar? Felizmente não tive esta experiência e até tenho dificuldade em concebê-la, mas como é uma problemática assistencial do tempo actual inequivocamente que carece de discussão, discussão complexa, provavelmente sem fim.
Acredito mesmo que até perante a existência de um testamento vital objectivo e claro (o que também não é assunto encerrado) a decisão clínica nem sempre se poderá considerar como partilhada com o titular desse testamento porquanto o dever ético do Médico é fazer de acordo com a norma clínica correcta sempre (e repito este sempre) que o Doente, na avaliação semiológica, “parecer ter algum índice de recuperabilidade com autonomia (tendo presente, quando possível, o conceito desta expresso pelo Doente)”. Ou seja, sem qualquer propósito de defender a obstinação clínica, que tenho como sinal de incompetência médica, entendo que perante um Doente com patologia grave “que pode ser tratada”, seja qual for a validade da opinião e o dever de respeito pela mesma expressa nesse testamento, o Médico tem de assumir o risco de tratar. Mesmo contra essa vontade legalmente suportada. Porque tratar sem sentido crítico é incompetência mas não tratar, havendo potencial recuperabilidade, por imposição legal que impede o tratamento será negligência. E ao Médico não são reconhecidas como aceitáveis nem uma nem outra destas atitudes.
E se, no tempo seguinte ao tratamento e eventual recuperação (ou não porque o prognóstico como toda a avaliação clínica é uma probabilidade), o Médico for confrontado com o ter desrespeitado a vontade do Doente deve assumir esse desrespeito com base no seu dever ético e defendê-lo contra quem quer que seja em função desse dever. Porque se ocorrer conflito entre a vontade expressa pelo Doente, em testamento vital ou outra qualquer expressão legítima de vontade e o dever ético-comprometido do Médico é este que tem de prevalecer se não quisermos anular ou iniciar a descaracterização do que é “ser-se Médico”.
Pode depois ser-se acusado de não respeitar a Lei que protege o Doente, de não respeitar o livre arbítrio de alguém que, em consciência, tomou uma decisão que a Lei considera válida e respeitável, pode até ser-se acusado de excesso de zelo ou de arrogância. De facto pode ser-se isso tudo e algo mais, mas o que o Médico não pode é ser acusado pelos pares de não ter tratado um doente que carecia de cuidados possíveis e acessíveis. Mesmo que o tenha feito “porque este, como seu direito, não queria ser tratado daquela forma naquele contexto”.
Os Médicos ao escolherem esta actividade obrigam-se a dois níveis de responsabilidade: o deontológico, com o “primum non nocere” sempre presente e o legal.
O legal é um dever que partilhamos com todos os outros cidadãos. A Lei é para se cumprir e presume-se que por ser Lei, em democracia e no estado de direito, é uma boa Lei. Já o nível deontológico, ainda que variando mais ou menos com o tempo legal, é mais complexo porque é simbólico e identitário. Pois embora esteja escrito como código também está inscrito na consciência de quem o quer cumprir e neste seu particular a unanimidade é um objectivo e não um facto. Claro que todos temos deveres éticos, mas os Médicos têm um código com o qual se comprometem que, simbolicamente, lhes diz o que têm de fazer e como o devem fazer. E ainda lhes impõe a obrigação de o defenderem, de o afirmarem em consciência pessoal e de o entenderem na convicção de que os seus pares fariam exactamente o mesmo que cada um faz perante as mesmas situações. E o muito objectivo deste notável projecto de intenções tem, identitáriamente, uma face abstracta. Cuja dimensão se deseja pequena, muito pequena, pequeníssima, de facto inexistente… mas que existe.
O que implica que uma decisão defendida de acordo com o Código Deontológico ainda que contra, ou que seja interpretada como contra, um direito afirmado (e imposto) pela Lei tem prioridade sobre esta Lei. Dito de outra forma, sempre que a Lei pretenda uma actuação assistencial contrária ao que se entende estar no Código não deve ser respeitada.
Claro que em julgamento o Médico que viver esta problemática será naturalmente condenado. Será a cega Lei a actuar no âmbito da sua competência e do seu dever no estado de direito. Mas as Leis que são correctas hoje são as que são modificadas para melhor amanhã. E o Médico que agiu de acordo com o Código sabe que, talvez corporativamente para outros intérpretes da norma, os seus pares na mesma circunstância ou fariam o mesmo que ele fez ou perceberão o que o fez fazer daquela maneira. Porque está seguro de que o dever ético de todos os Médicos é tratar sempre que houver aparente índice de recuperabilidade do Doente. E seja que Doente for. “Primum non nocere” não é fazer como o Doente acha que deve ser feito. É fazer de acordo com a arte e a ciência respeitando o compromisso social da profissão e a vontade do Doente “quando possível, ou seja, quando não conflituar com a obrigação ética do cuidador”. Mesmo que essa decisão, por ser contrária ao desejado por aquele Doente, possa trazer-lhe sofrimento. A solução de conflitos e deste em particular nunca será perfeita mas, por isso mesmo, deve tentar ser abrangente e não estritamente pessoal. E embora penalizado pela Justiça e aceitando isso como risco próprio da actividade o Médico saberá que a sua vivência profissional condenada será discutida e que a Lei que o condena será a seu tempo modificada. É este o modelo de como em democracia os respectivos valores se vão lenta e regularmente melhorando para que o regime se torne todos os dias mais justo que no dia anterior.
- Oncologia
Também na minha vida como Oncologista (sou Assistente Hospitalar de Oncologia Médica tendo trabalhado nesta especialidade quer no Hospital dos Capuchos quer numa instituição privada. DR 2ª série, nº 28, 1987.02.03 pág. 1455) não recordo uma única vez em que se possa afirmar ter havido partilha de decisão entre os planos que decidi e os Doentes por eles abrangidos. E embora o simbólico da doença oncológica, nesses idos de oitenta, talvez fosse ainda mais dramático que hoje a grande, quiçá única, preocupação inicial dos Doentes era a sobrevivência possível que relacionavam com os Médicos. Surgia depois a vontade de serem aliviados das dores física e psicológica associadas aos tratamentos e só após o estabelecimento de uma relação pessoalizada se iniciavam as longas conversas para esclarecimento da doença, do projecto terapêutico em curso, do prognóstico esperado e do plano de vida com uma doença tida sempre como fatal, mas que se queria ver como tendo este final tanto mais distante quanto possível. Nada de partilha. Apenas conversa entre parceiros com um interesse comum, o bem-estar do Doente, ou melhor dito apenas relação Médico-Doente.
E calorosa no seu habitual talvez porque os encontros eram frequentes, porque as melhorias eram sentidas (ou, nalguns casos, desejadas) pelos Doentes ou porque também os Médicos, os Enfermeiros e os Auxiliares sentiam emocionalmente as alterações, boas e más, de cada Doente. Conversas para esclarecimento de tudo que se decidia e que se entendia como feito no interesse do Doente com a convicção de que se estava a fazer o melhor que era possível fazer-se. Ali ou noutro qualquer local pois naqueles anos quem tinha poder financeiro para isso saía do país à procura de melhores tratamentos ou de apreciação do que já tinham feito. E voltavam felizes por se saberem bem cuidados com as decisões tomadas pelos Médicos, sempre, de forma comanditária.
Mesmo as questões sobre finitude da vida não eram tema das primeiras conversas. Surgiam frequentemente quando os tratamentos pareciam estar a ser eficazes e o Doente percebia estar melhor. Nessas ocasiões, inicialmente de forma indirecta mas frontal depois de o Médico perceber o pretendido, o fim de vida era comentado e integrado na relação. Em termos abstractos para muitos, mas de forma objectiva e individual para muitos outros.
A ideia da morte, tal como o valor da vida, tem expressões singulares de pessoa para pessoa e ainda hoje não sei se os Doentes que tratei e com quem discuti ambos os valores me veicularam perspectivas de pessoas com doença grave potencialmente fatal ou se pura e simplesmente já tinham esses valores e interpretações quando a doença não era hipótese nas suas vidas.
Ouvi aceitação e recusa exactamente com os mesmos argumentos. Ouvi aceitação e recusa onde uma e outra perspectiva me parecia absurda. Ouvi surpreendente lucidez crítica no Doente que tinha como bronco e estupidez no que supunha intelectualmente brilhante o que, sendo situações extremas, sempre me causaram surpresa porque são demonstrativas de como somos diferentes uns dos outros. E também de como nos desconhecemos. Porque se vivemos de formas diferentes morremos da mesma maneira sem que o poder em vida se equivalha ao que se tem de ter perante a morte. Mas estas reflexões também não são partilha de decisão.
Como o não eram as discussões com os que questionavam as decisões tomadas. A verdade é que, na minha experiência, nunca as recusavam. O que pretendiam não era discutir e partilhar a decisão mas era escolher um caminho terapêutico que não existia na competência do Médico. E reclamavam por isso com esse Médico, que estava perto e em quem queriam confiar, pior, em quem confiavam de facto mas que os não ajudavam a inventá-lo.
Queriam acreditar nos planos de quem os programavam e mesmo quando a certeza do fracasso se tornava óbvia não questionavam as suas decisões. Questionavam sim a injustiça da dor e a responsabilidade da doença que lhes retirava antes do tempo “certo” uma vida que devia ser muito mais prolongada. Alguns, poucos, partilhavam esta dor. Preferencialmente com o Médico que, mesmo naquele dramático pessoal, reconheciam como o único interlocutor com quem esse diálogo poderia ter sentido.
E não poderia ser de forma diferente. O Doente tem uma doença que desconhece, que não deseja, que nem sempre pretende que lhe seja especiosamente explicada. Não sabe como proceder para se livrar desse sofrimento e aceita que uma competência convencional o oriente da forma mais adequada no combate que a sua vida próxima acarreta. Não quer partilhar decisões nem ter opinião sobre procedimentos quer é ser tratado da melhor forma e sente que precisa de acreditar que é isso que fará o cuidador a quem se entregou. E espera, com mais ou menos confiança, com mais ou menos esperança, que o resultado lhe seja favorável.
Claro que também quer sofrer o mínimo possível com as estratégias de investigação, tratamento e reavaliação e pode falar sobre isso. Mas não quer discutir qual a melhor escolha de que o Médico dispõe para alcançar tal objectivo. Quer antes ver-se livre de tudo que interfere com o seu bem-estar e lhe modificou a vida como a tinha até adoecer.
“Primum non nocere” é saber corresponder a este desejo com saber clínico, conhecimento actualizado, companhia cooperativa quotidiana, disponibilidade quase permanente e solidariedade partilhada que “torne a agressão o menos agressiva” que for possível.
Mas nada disto é decisão partilhada pois são pura e simplesmente as normas que definem a competência do exercício clínico assistencial. Tratar como se deve tratar. Esclarecer como for possível esclarecer. Partilhar as dificuldades para que o Doente saiba que não há dificuldade que deixe de ser enfrentada “porque não tem solução”. Tem solução embora nem sempre a que se deseja. Mas será a que permite àquele Doente saber que quem escolheu como cuidador está ao seu lado, por vezes e lamentavelmente, apenas para estar porque este singular estar é o seu dever. Nem transmissível nem delegável.
- Saúde mental
A saúde mental é outra área da prática clínica onde a ideia de decisão partilhada me parece abstrusa. Como se partilha decisão quando a meio de um exame objectivo a doente se ergue gritando “você ´está-me a apalpar”. Quando o Doente nos diz “que já morreu” não se deixando observar. Quando durante a avaliação semiológica se nota que a informação é delirante num discurso que parece coerente. Como se partilha decisão quando o Doente quer ser agradável para o Médico e lhe pede este ou aquele medicamento que foi prescrito a outro de quem gosta? E como se partilha decisão quando ao se tentar explicar as diferenças no tipo de apoio, numa relação de proximidade e até de afecto já duradouros, isso tem como reacção um inesperado desconfiar do cuidador que até então tinha sido tido como parceiro sério e fiável?
Existirão patologias que, até como forma de promover uma relação terapêutica prolongada e confiante, poderão ser objecto de discussão e de aparente partilha nas propostas dos planos de investigação e tratamento. Mas na sua grande maioria até estas serão partilhas artificiais, construções que os conhecimentos do Médico podem elaborar para facilitar a aceitação pelo Doente de algo que ele não quer fazer. Mas para o Doente dependente, internado, em fase aguda, a decisão não tem que ser protelada, tem de ser adaptada à sua real necessidade do momento e, eventualmente, terá de ser forçada durante períodos curtos. Pensar em partilhar decisões neste contexto é, no mínimo e em meu entender, um disparate.
Se já nem sempre é fácil tratar bem alguns destes Doentes pensar que se lhes deve reconhecer arbítrio para recusar certas medidas terapêuticas é algo que só posso definir como má-prática. As investigações por meios complementares de diagnóstico ainda se poderão dispensar quando o Doente as recusa absolutamente ou quando se percebe que pode reagir às mesmas com agressividade para os executores. Nestes casos é necessário encontrar alternativas sabendo que as decisões terão de ser mais controladas que usualmente e revistas todos os dias. E há casos em que o recurso à anestesia, apesar da relutância dos serviços em fazê-la porque são muito perturbados por estes Doentes, é inevitável.
Por isso julgo que 100% das minhas decisões clínicas sobre estes Doentes foram exclusivamente minhas. E se as discuti foi com Colegas para se articularem os meus propósitos com os seus projectos de tratamento.
Polémica ou provocação?
Donde a minha conclusão. A decisão clínica partilhada é uma armadilha. Poderá parecer ser mais um avanço democrático por anular ou reduzir o poder discricionário de um grupo profissional e isso ser considerado progresso. Mas será? A verdade é que os inquéritos feitos por analistas sociais, por Médicos ou por Doentes para a tentarem validar não são fiáveis. Porque quer os que perguntam quer os que respondem o fazem em função de uma convicção interpretativa do conceito que difere, muito ou pouco, entre todos os intervenientes. Com esta factualidade a apreciação dos resultados é absurdamente insegura. Trata-se, de facto, de uma moda louvável porque revela interesse pela defesa do direito de cada um dispor do seu corpo. E como é mais um passo na tentativa de igualificar os cidadãos em direitos é uma expressão de liberdade e a liberdade nunca pode ser excessiva.
Mas eu acho que não é uma expressão da liberdade. Estamos a viver um tempo de apogeu de um certo tipo de vida e há pessoas que alcançaram uma dignidade no existir que era ou alguns entendiam ser impensável há anos atrás. Desde o final da segunda guerra mundial, pelo menos para quem vive no mundo chamado ocidental, obtiveram-se ganhos sociais e direitos absolutamente extraordinários. A ciência retirou o véu da ignorância a fenómenos dos infinitamente pequeno e infinitamente grande que nem conseguíamos imaginar. As relações entre pessoas são hoje mais abertas, o mundo oferece oportunidades de deslocação quase absolutas e o dinheiro circula por muito maior número de utilizadores.
Mas a desigualdade cresceu desmesuradamente. Como noutros tempos já tinha acontecido. E os ganhos de muitos beneficiados não escondem o profundo azedo de contextos de sofrimento, angústia (mesmo nos beneficiados), dor com e sem objecto, desinserção social, estigmatização por motivos diversos que são o cadinho de conflitos potencialmente violentos. Recusar criticar estas margens do actual mundo de vantagens como fazem os que se alienam no persistente ganho de cada vez mais direitos sem se preocuparem com a sua necessária generalização para estarem bem alicerçados, acarreta um viver individual a desejar para si e só para si cada vez mais benefícios com secundarização do valor partilha!
Esquecendo que os ganhos pela partilha de decisão, também a clínica, que estão definidos em papel, como vários outros normativos que se pretendem progressistas, só existem de forma absoluta, irreversível, nesses documentos legais. A prática desmente-os. E será a sua contínua discussão a forma, provavelmente a única neste tempo actual, de fazer com que se instalem, se generalizem, se tornem identidade indestrutível para quem os promove e usufrui. Mais direitos é bom. Mas mais direitos só por isso é ignorar a necessidade da sua discussão, dos seus bom e mau, para se evitar uma sua conquista fragilizada.
Era uma vez
A decisão clínica participada é a reflexão deste texto. Como é tão habitual no exercício clínico o uso de exemplos reais, simples e estereotipados, mas lidos com abrangência são um bom complemento da reflexão médica. Escolhi dois.
Exemplo 1 – Homem, 41 anos, professor numa Escola de Ensino Superior na área da comunicação. Sofreu queda ligeira com traumatismo do cotovelo direito. Duas semanas depois por persistência de dor teve uma primeira consulta. Quando me procurou já tinha sido observado por dois Ortopedistas que lhe tinham prescrito repouso, anti-inflamatórios, analgesia e fisioterapia. Um destes Médicos, em consulta de revisão e por persistência das queixas, sugeriu-lhe manter o plano e admitiu a necessidade de fazer uma infiltração. Explicou que este tratamento se fazia com corticóides. Após receber esta informação o Doente decidiu falar comigo procurando alternativas mais adequadas porque não aceitava fazer este tipo de medicação que, sabia-o pela internet, engordava. Observei-o e disse-lhe tratar-se de quadro clínico de fácil resolução. Apenas tinha de decidir sobre 3 opções: continuar a prescrição em curso e esperar melhorar ao fim de tempo indeterminado; fazer a infiltração e melhorar, muito provavelmente, quase logo e durante bastante tempo; não fazer nada e esperar que a doença, naturalmente, o deixe de incomodar o que poderá acontecer ou não. Despedi-o nunca tendo sabido o que veio a decidir. Será que a decisão clínica que veio a ser tomada se pode considerar como partilhada?
Exemplo 2 – Homem, 37 anos, representante-vendedor de artigos de desporto no Algarve de onde é natural. Soube que a deficiência em vitamina D era preocupante no nosso país e após investigação na internet recorreu ao seu Médico a quem pediu análises com doseamento da vitamina D. Que mostraram um valor ligeiramente abaixo do normal. O Médico conversou prolongadamente com o Doente para lhe dar as informações que considerou adequadas (que este me disse depois já conhecer muito bem) e medicou-o. Vem à minha consulta após algumas reavaliações e mais dois doseamentos da vitamina com valores quase iguais. Entendia que o Médico não estava a cuidar do seu problema de acordo com a sua gravidade e queria uma segunda opinião e novas análises. Fiz a história clínica com particular cuidado ao seu passado e às alterações recentes e um exame objectivo com algum exibicionismo. Disse-lhe que não havia justificação para novas análises. Surpreendido quis mostrar-me as anteriores mas respondi que me não interessavam, que não encontrei qualquer sofrimento de órgão ou sinal de doença em actividade pelo que a minha interpretação do quadro era simples: num país onde há tanta exposição ao sol a probabilidade de haver deficiência em vitamina D é baixa. E, no caso dele, já tendo feito terapêutica, o que em meu entender era clinicamente correcto seria o retomar da sua vida sem pensar mais no assunto, não voltar a fazer o doseamento da vitamina D e manter, sem regularidade, os suplementos que já tinha prescritos. Despedi-o admitindo que talvez tenha decidido procurar uma terceira opinião. Assumi também a responsabilidade de não lhe dizer algo que tenho como relevante: que o valor baixo encontrado nas análises poderá ser uma iatrogenia de medicação que faz continuadamente desde a adolescência para patologia crónica complexa. Claro que acho que se justifica dar esta informação aos Doentes. Mas na relação com este particular Doente não o fiz por recear que a sua decisão fosse interromper o tratamento que o mantém compensado há anos para avaliar se, sem a medicação, uma nova análise já lhe daria um valor mais elevado de vitamina D. Será que a decisão que veio a tomar satisfaz critério de partilhada?
O que é fazer bem?
Nunca me imaginei retrógrado. Mas ou porque estou velho ou por ter atingido uma fase da minha vida onde, contrafeito, começo a ter receio de que o mundo melhor para todos que julgava estar a chegar e a chegar de forma definitiva, afinal não existirá em vida minha, não vai existir em tempo próximo do meu fim (que quero distante) ou talvez seja mesmo impossível vir a existir em algum tempo.
O que me faz sentir ridículo por em quase todas as lições que dei ao longo dos cerca de 45 anos de Médico ter regularmente dito que “quando nascemos temos apenas um dever na vida que é morrer num mundo melhor… tendo contribuído um pouco para isso”.
Por isso “pergunto ao vento que passa”: estarei a contribuir?